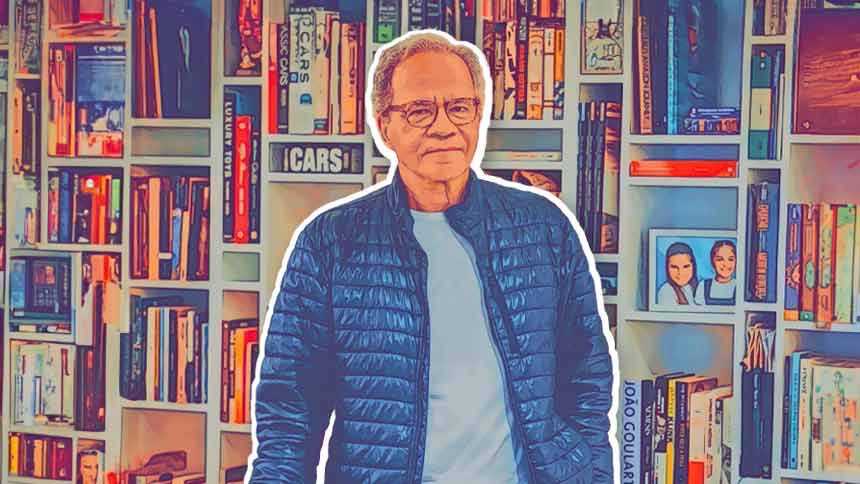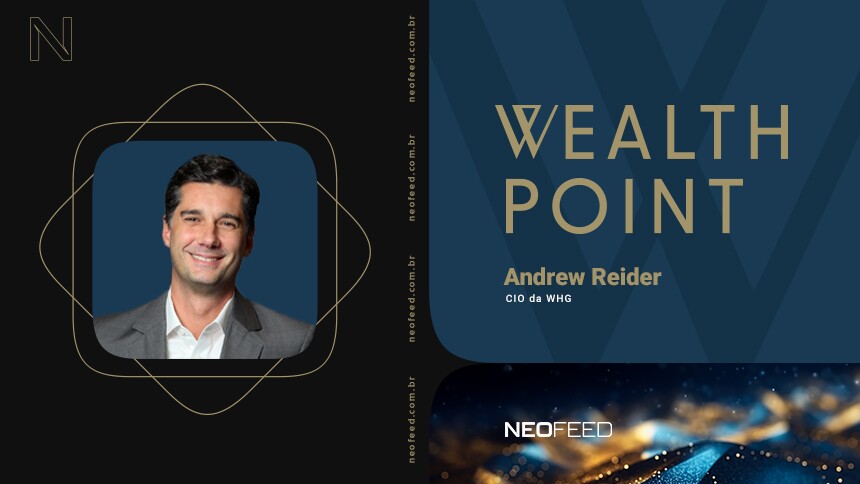Toda vez que empresas escorregam, ressurgem algumas vozes roucas decretando o fim do conceito de sustentabilidade empresarial. Chego mesmo a acreditar que ele talvez já tenha morrido. E, por descuido meu, esqueci de ler o seu obituário num dos muitos jornais, revistas e blogs que o alimentaram e insistiram em mantê-lo vivo nos últimos 20 anos.
Ironia à parte, eis os fatos. Uma de suas primeiras “mortes” ocorreu entre 2001 e 2002, quando Enron, Tyco, Wolrdcom, e depois Parmalat, meteram-se em escândalos de falsificação de balanços contábeis. A segunda se deu em 2008 com a derrocada dos gigantes Lehman Brothers, Merril Lynch e Bank of América, que resolveram brincar de roleta russa com as hipotecas de alto risco dos EUA, estourando uma crise econômica global que faliu gente graúda e miúda em todos os cantos do planeta.
No Brasil, a Lava-jato ajudou a reavivar a falsa ideia da morte da sustentabilidade. O fato de algumas empresas implicadas na operação publicarem relatórios de sustentabilidade ou terem assinado documentos anticorrupção ou ainda estarem ligadas a organizações promotoras do tema causou tanta ou mais indignação do que os bilhões de reais desviados dos cofres públicos. Mais até do que o fato de que os seus CEOs migraram dos postos de deuses (de pés de barro!), criados artificialmente pelos plutocratas do business as usual, aos de “antiexemplos” para jovens em início de carreira.
Com os episódios de Mariana e Brumadinho, a sustentabilidade empresarial sofreu a sua enésima morte. De que adiantou a Vale publicar relatório de sustentabilidade auditado por parte externa, se aconteceu o que aconteceu?, alegaram alguns descrentes. Críticas historicamente depreciativas sobre o posicionamento de sustentabilidade de empresas, como as que eles nada mais são do que “estratégias de marketing” ou “greenwashing”, voltaram com força redobrada, num raciocínio que associa um conceito emancipador com mentira, disfarce ou enganação.
Aqui é preciso ressaltar: este colunista não é ingênuo (nem tem o direito de ser dada a experiência no tema) de achar que todas as empresas que se dizem “sustentáveis” fazem tudo o que precisam (mudanças de práticas e modelos, investimentos, inovações) para merecer o adjetivo, nem que as informações publicadas nos relatórios representam compromissos efetivos, muito menos que os dados divulgados funcionem como indicadores para um novo tipo de gestão (mais cuidadoso em relação a pessoas e meio ambiente) ou ainda que todas as empresas se dediquem, com a mesma prioridade, determinação e transparência, a resolver os seus passivos socioambientais, equacionar os seus riscos e a gerar valor para as partes interessadas.
Mas daí a achar que o problema está no conceito em si e não na aplicação dele é o mesmo que atribuir desvios de ética numa empresa à existência do seu código de conduta. Ou, mal comparando, o mesmo que atribuir as barbeiragens no trânsito ao Código de Trânsito Brasileiro. Não faz sentido. Embora seja compreensível se considerarmos a grande desconfiança dos brasileiros em suas instituições, as empresas entre elas.
Na esteira desse movimento, um recente estudo do IMD, de Lausanne, na Suíça, ofereceu munição aos desconfiados. Após analisar dez setores industriais, durante três anos, professores dessa escola de negócios cujas salas de aula costumam receber CEOs brasileiros, chegaram a seguinte conclusão: “apenas” um terço das empresas gerou valor a partir da sustentabilidade. Os demais dois terços perderam tempo na tarefa de encaixar a prática no discurso, preferindo mais comunicar do que fazer. Tomado assim de modo isolado, esse dado pode confirmar a tese dos pessimistas. Será mesmo? Prefiro as entrelinhas do que não foi concluído.
Um estudo do IMD, de Lausanne, mostra que “apenas” um terço das empresas gerou valor a partir da sustentabilidade. Os demais dois terços perderam tempo na tarefa de encaixar a prática no discurso, preferindo mais comunicar do que fazer.
Uma breve leitura do livro escrito pelos acadêmicos suíços (Winning Sustainability Strategies”, Palgrave, 2019) reúne elementos suficientes para uma análise do tipo “copo cheio”: 62% dos executivos entrevistados admitem que estratégias de sustentabilidade são necessárias para a maior competitividade de suas empresas. 22% dizem que, mais do que importantes, “elas” serão fundamentais no “futuro.” Logo, vale concluir, 82% dos líderes já sabem o que é certo fazer.
Sobre este “futuro”, o livro oferece algumas pistas interessantes a favor da expansão da sustentabilidade como estratégia: o crescente interesse dos investidores, uma turma que andava indiferente até Larry Fink, o comandante da BlackRock, maior empresa de gestão de dinheiro do planeta, afirmar em carta pública, no início de 2018, que não investirá nenhum centavo dos seus US$ 6 trilhões de ativos em empresas descuidadas em relação ao ESG (sigla que, em tradução, inclui as questões ambientais, sociais e de governança).
Os números do estudo do IMD encontram ressonância na experiência de qualquer pessoa que, como eu, tenha se dado ao trabalho de acompanhar a evolução da sustentabilidade nas empresas brasileiras. Vamos, de novo, aos fatos. Há 20 anos, não mais que uma dezena de empresas, entre elas Natura e Banco Real, enxergavam nexo entre responsabilidade social e negócios no Brasil.
Nenhuma empresa séria se pergunta mais por que implantar sustentabilidade mas como fazê-lo
Hoje, Instituto Ethos e Pacto Global, para ficar em dois exemplos de organizações promotoras do tema, possuem centenas de associados e signatários. O tema está na agenda dos principais líderes de negócios. Nenhuma empresa séria se pergunta mais por que implantar sustentabilidade mas como fazê-lo. Os benefícios já são percebidos pela maioria delas—redução de riscos operacionais e custos de financiamento, ganhos de ecoeficiência e reputação, atração e retenção de talentos e aumento do valor dos negócios.
Há 15 anos, poucas empresas compreendiam exatamente a extensão dos seus impactos ambientais. Faziam apenas – às vezes nem isso-- o que a lei determinava para prevenir, remediar ou compensar danos aos ecossistemas. Hoje, é raro encontrar uma empresa séria que já não tenha realizado um balanço do uso de água, energia e insumos, dos desperdícios de materiais e do volume de emissões de gases de efeito estufa, das externalidades que prejudicam comunidades do entorno. Raras são também as empresas que, tendo se dado a esse expediente, não disponham de alguma prática para solucionar os seus impactos.
Há pouco mais de 10 anos, um grupo pequeno de companhias recorria à ferramenta de Relatórios GRI, um modelo de organização e reporte de informações ESG criado em 1997 por conta da pressão de investidores após o acidente do navio petroleiro Exxon Valdez. Hoje, perto de 300 usam este tipo de relatório, número que deve aumentar com o crescente interesse dos investidores por informações institucionais auditadas.
Há sete anos, os códigos de conduta eram documentos protocolares. Com a crise da Lava-Jato, os programas de compliance ganharam força e status estratégico. As informações sobre governança passaram a contar pontos na avaliação do valor dos negócios.
Há cinco anos, a questão da diversidade resumia-se a uma interminável polêmica a respeito de cotas para grupos minorizados. Hoje, virou valor organizacional, está associada a melhor ambiente de trabalho, à qualidade de vida e à inovação.
Não sei o que pensa você, leitor, a respeito. Mas eu, definitivamente, não quero retornar a um tempo pré-sustentabilidade, nem desejo estar na posição confortável de quem atribui o problema á regra não ao correto cumprimento dela. Seja na posição de colaborador, cliente, fornecedor, comunidade e até mesmo investidor, prefiro exercer pressão para que as empresas sejam cada vez mais sustentáveis. Porque é o melhor para a sociedade e o Planeta.
*Ricardo Voltolini foi um dos primeiros consultores de sustentabilidade empresarial no Brasil e especialista em liderança com valores. Autor de nove livros, entre os quais se destaca “Conversas com Líderes Sustentáveis – O que aprender com quem fez ou está fazendo a mudança para a sustentabilidade”, publicado pela Editora Senac São Paulo. É professor de Sustentabilidade convidado da Fundação Dom Cabral e do ISAE/FGV (Curitiba).