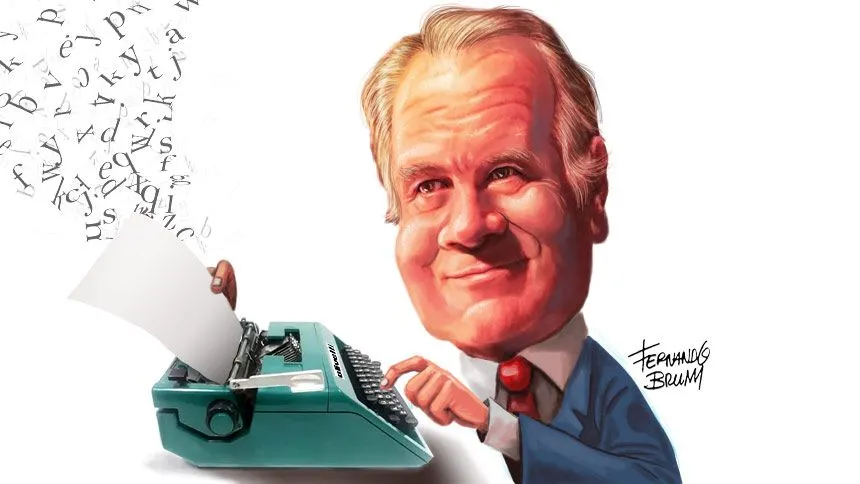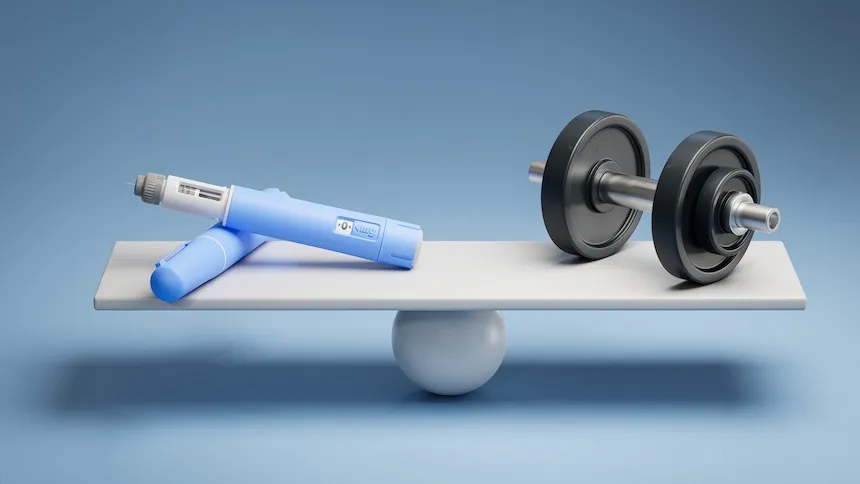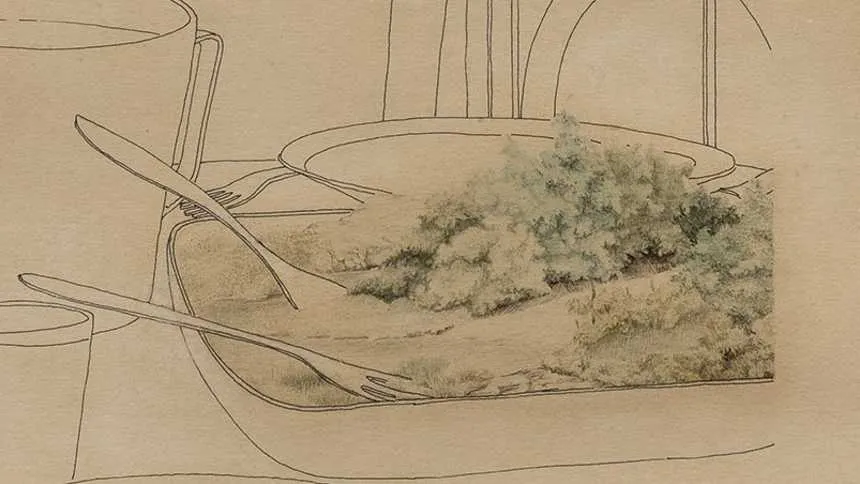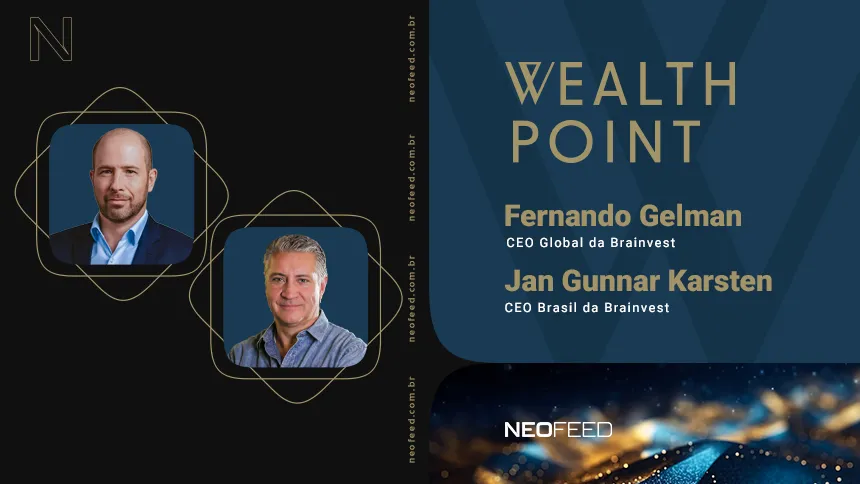No polarizado mundo de 2025, pode-se dividir os brasileiros em dois grupos: os que têm consciência e os que não têm da relevância do jornalista Mino Carta em suas vidas.
Mino morreu esta semana, aos 91 anos, sem que a grande maioria de nós tenha compreendido claramente como ele e o jornalismo que praticou mudaram o Brasil. Uma mudança que começou nos anos 1960, teve seu momento decisivo no final da década de 1970 e gera efeitos até hoje.
Italiano nascido em Gênova, ele enxergou, com seu olhar muitas vezes eurocentrado (ou, até mais, “italocentrado”), o País como poucos. E, a partir dessa observação sagaz, descobriu e jogou luzes sobre um personagem que, gostem ou não, esteve e ainda está no centro da história brasileira no último meio século.
Mino enxergou Luiz Inácio da Silva. Foi a São Bernardo do Campo, no ABC paulista, em 1978, e voltou de lá com o primeiro perfil robusto do líder sindical publicado em um grande veículo de imprensa brasileiro.
A reportagem da IstoÉ, assinada por Mino Carta e com fotos de Hélio Campos Mello, é a segunda certidão de nascimento de Lula. Ele e o Brasil jamais seriam os mesmos.
Lula tem consciência disso, tanto que fez questão de ir ao velório do jornalista e abraçar sua filha, Manuela, herdeira da Carta Capital, o último de tantos veículos criados por Mino em mais de seis décadas como jornalista no Brasil.
Assim como os brasileiros, nós, jornalistas, podemos ser divididos em duas alas: a dos que têm consciência e a dos que não têm da relevância de Mino Carta às suas carreiras.
O fato de que não existam mais o Jornal da República, o Jornal da Tarde e a revista Senhor e que publicações como Veja, IstoÉ e Quatro Rodas não sejam hoje tão influentes como já foram um dia não reduz seu legado como criador e diretor dessas marcas.
São veículos que balizaram o jornalismo nacional e que formaram gerações de repórteres, editores e diretores de redação que multiplicariam o efeito Mino na imprensa nacional — para o bem e para o mal, não sejamos ingênuos.
Mino deixou lições claras para todos nós que convivemos com ele e que, depois, seguimos com nossas carreiras e transmitimos nossos conhecimentos àqueles com quem compartilhamos redações.
Um homem de seu tempo
Mino era um homem de seu tempo. Incorporava o melhor e o pior daquela era de redações tóxicas, seja pela fumaça dos cigarros, seja pelo estilo de liderança exercido por chefias autoritárias.
Exerceu seus poderes de forma por vezes abusiva. Mas era um homem que ensinava a quem queria aprender e, assim, também exercia sua generosidade.
Centralizador, acompanhava cada detalhe da edição que iria às bancas. Desenhava cada uma das páginas, escolhia pessoalmente as imagens e lia todo texto que seria enviado à gráfica. Isso impunha senso de responsabilidade (em alguns casos, pânico) aos editores.
Quando conheci Mino, eu era um jovem jornalista de 24 anos, recém-chegado de Curitiba a São Paulo em busca de uma oportunidade. Ela me foi dada por Nirlando Beirão, o redator-chefe mineiro que fazia o perfeito contraponto com o diretor da então IstoÉ Senhor.
Um era explosivo e ocupava uma mesa oval logo à entrada da insalubre redação sem forro no teto e com fios elétricos correndo aparentes entre as antigas vigas de madeira de um centenário prédio industrial. O outro, flanava tranquilo entre as mesas, como a deixar claro que a estrela era Mino, mas que ele, também genial, estava ali para amparar-nos.
Ambos me acolheram naquele ambiente austero, que destacava ainda mais o brilho das ideias. Não havia aquários, anteparos ou proteção contra as goteiras nos dias de chuva — elas pareciam procurar por Mino, que não raro se protegia com chapéus confeccionados com o jornal do dia, que ele mesmo dobrava.
As conversas não tinham reservas e os debates eram abertos a todos. Ali podia-se absorver, sem obstáculos, o conhecimento, a exigência e a indignação com que Mino imprimia, semanalmente, seu nome em nossa história.
Aguardávamos ansiosos para ler em primeira mão seus editoriais, escritos na velha Olivetti nas manhãs das sextas-feiras. O texto finamente temperado de acidez e ironia nos lembrava do papel crítico que exercíamos ali. Não éramos muitos, tínhamos de ser certeiros.
Para um jovem repórter, era um MBA cotidiano. Menos de um ano depois da minha chegada, fui promovido a editor. Passei, então, a ter de enfrentar a fera, defender minhas escolhas, apresentar meus argumentos diante de um chefe que cobrava sempre uma ideia original, uma tese inteligente que sustentasse um texto digno de estar presente na mesma revista que trazia seu nome no topo do expediente.
Ele não aliviava nem contemporizava. Trabalhávamos de forma intensa, pressionados pelo tempo e, ainda mais, pela necessidade de atender aos padrões impostos por um chefe personalista e intransigente, mas ao mesmo tempo humanista e disposto a ensinar.
Mino era uma espécie de déspota esclarecido, como um Medici florentino deslocado em um bairro proletário de São Paulo. Sempre elegante, capaz de discorrer por horas sobre a importância de saber usar um lenço na lapela de ternos impecavelmente cortados, ele sofria de nostalgia da terra natal, sabendo que seu destino estava inevitavelmente amarrado ao país tropical em que desembarcou décadas antes, trazido pelo pai, também jornalista.
A vinda para o Brasil
Os Carta deixaram a Itália fugindo do fascismo e isso certamente forjou a visão política de Mino. Minha convivência de cerca de quatro anos com ele coincidiu com a redemocratização, as primeiras eleições diretas pós-regime militar, a primeira derrota de Lula nas urnas, a ascensão e queda de Fernando Collor, cujo estilo ele desprezava.
Deixei a IstoÉ antes de Mino, mas carreguei-o comigo nas lições do que devia perseguir e também no modelo de poder que eu não gostaria de exercer.
Nos últimos 30 anos, conto nos dedos as vezes que o encontrei. Sempre foi carinhoso e atencioso comigo, como o vi ser com tantos outros companheiros das redações que frequentou e comandou.
Era fiel a quem lhe foi fiel e teve consigo escudeiros que o acompanharam por toda a vida. Também cultivou rancores com a mesma obstinação.
O que jamais superou foram duas grandes perdas: a da doce companheira Angélica e, mais recentemente, do filho Gianni. Este, um baque capaz de o separar de vez da indefectível Olivetti em cujas teclas escreveu parte de nossa história.
Estou no time dos que estão conscientes do quanto ele representou para mim e para o Brasil. E não foi pouco.