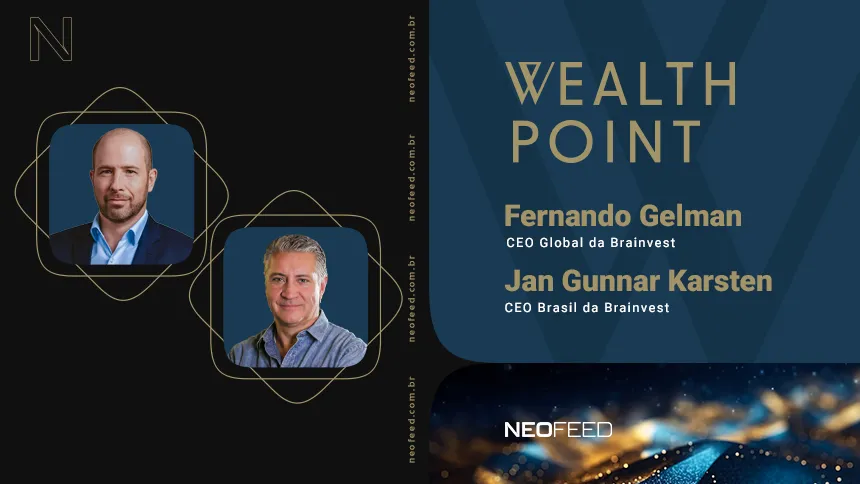Existe uma máxima que vale principalmente para os governantes, escrita pelo estadista e escritor irlandês Edmund Burke, no século XVIII: “Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la”.
A leitura de “A bailarina da morte: A gripe espanhola no Brasil, de Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling, que já está nas livrarias, conduz à inevitável comparação entre a pandemia de 1918-1919 e a que ocorre no mundo hoje por causa da Covid-19. E os dois eventos parecem repetir um enredo de erros muito semelhantes.
Mais de 100 anos depois, mesmo com todo o conhecimento acumulado pela ciência e pela medicina e melhorias nas condições sanitárias, problemas básicos do passado como uso de máscaras e descaso com isolamento social por causa da economia continuam no combate ao vírus.
Agora, o mundo se assombra com uma possível segunda onda. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas nos 11 primeiros dias de novembro, foram mais de 1,5 milhão de infectados – 15% do total de 10,5 milhões acumulados desde março. Estima-se que mais 110 mil americanos podem morrer nos próximos dois meses.
Na Europa, países como Bélgica, França, Inglaterra, Itália, Áustria e Alemanha já decretaram novas medidas sanitárias, fechamento de alguns estabelecimentos e toques de recolher porque estão agora com números maiores de infectados do que em março e em abril.
O Brasil está ainda na primeira onda da Covid-19 e ultrapassou, neste fim de semana, os 165 mil mortos e conta com quase seis milhões de infectados. As lições do passado, portanto, deveriam ser importantes para entender como enfrentar e lidar com essa pandemia.
Em uma narrativa meticulosa e aterrorizante sobre o que aconteceu entre março de 1918 e os primeiros meses de 1920, “A bailarina da morte” mostra que a gripe espanhola pode ter atingido, direta ou indiretamente, cerca de 50% da população mundial e levado à morte de 40 milhões a 50 milhões de pessoas. É um número superior ao de mortes na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, estimado entre 20 milhões e 30 milhões.
Na época, o Brasil, que tinha 30 milhões de habitantes, perdeu ao menos 50 mil vidas. Proporcionalmente, corresponderiam a 350 mil mortos em 2020, uma vez que a população é sete vezes maior.

A partir de julho de 1918, a letalidade deixou o mundo a mercê da morte, com o início da segunda onda. Por meio de uma vasta pesquisa em livros e jornais, além de imagens, as duas historiadoras mostram que foi nesse momento que a maioria das pandemias da história matou mais.
No caso da gripe espanhola, que surgiu nos Estados Unidos, todos os continentes acabaram afetados, até os lugares mais longínquos. Pouquíssimos escaparam ilesos, como o norte da Islândia, a Austrália e algumas ilhas Samoa.
O vírus H1N1, tipo A, foi registrado pela primeira vez no estado americano do Kansas, e era ainda mais violento quando atingia áreas isoladas, porque tinham menor memória imunológica da influenza.
Em Brevig, um vilarejo ao norte do Alasca, a gripe matou 72 pessoas em uma população de 80 esquimós. Em Teller, um povoado distante dez quilômetros de Brevig, apenas cinco adultos sobreviveram.
Os sintomas eram aterradores. “Além de sair sangue pelo nariz, ouvidos e olhos dos doentes, o delírio tomava conta das vítimas. Dizia-se que, em geral, ao menos duas pessoas de cada família iriam falecer.” De tão frequentes e corriqueiras, as mortes não precisavam mais ser noticiadas pelos jornais para ganharem realidade, escrevem Schwarcz e Starling.
“Era possível observá-las no próprio movimento macabro das ruas, onde transeuntes carregavam corpos embrulhados, ambulâncias circulavam pelas ruas, pessoas caminhavam apressadas e com máscaras. Testemunhas contavam ter visto cadáveres totalmente escuros, como se tivessem sido carbonizados.”
Os doentes apresentavam dor de cabeça e nas costas, diarreia e muitas vezes perda de olfato, sintomas muitos semelhantes aos da Covid-19 “Impressionava ver os doentes tossindo e cuspindo sangue, o qual escorria pelos corpos como se fosse uma praga bíblica.”
Nesse contexto, a prostração levava a reações diversas, que iam da histeria à melancolia, da depressão aos vários casos de suicídio que ocorreram em 1918. Grávidas e jovens adultos eram os que mais pereciam.
A medicina da época não sabia explicar as causas da doença e muito menos controlá-la, já que a tecnologia ainda não permitia que os cientistas enxergassem o vírus pelo o microscópio.
Em meados de 1918, de acordo com as autoras, a comunidade científica conhecia pouco sobre a estrutura e a forma de atuação de um vírus. “A elevada e rápida letalidade do vírus desafiava as terapêuticas conhecidas e disponíveis então, alternando-se práticas científicas e populares de prevenção e cura.”
No Brasil, a gripe chegou em 9 de setembro, pelo navio Demerara, que vinha de Liverpool, e começou o processo de contaminação por Recife. E seguiu pelas escalas em Salvador, Santos e Rio de Janeiro. Primeiro, veio a negação do perigo de pandemia. Depois, o credo de que Deus era brasileiro e protegeria a todos.
No Brasil, a gripe chegou em 9 de setembro de 1918, pelo navio Demerara, que vinha de Liverpool
Se o resto do mundo não sabia o que fazer, no país, as medidas equivocadas começaram com uma censura pelos meios militares para que o pânico não se espalhasse e a escolha do leprosário da Ilha Grande com o propósito de isolar os infectados, como se fosse possível.
Enquanto isso, havia total carência de aparelhamento das instituições sanitárias federais. Nenhuma estratégia de combate à moléstia foi montada para socorrer a população. Estima-se que três em cada quatro cariocas pegaram a doença e 12,7 mil morreram, em dois meses – mais de 200 cadáveres por dia.
O momento mais crítico aconteceu em meados de outubro de 1918, quando o diretor de saúde pública admitiu que não sabia o que fazer. “À medida que a gripe avançava, o número de mortes diárias atingiu uma velocidade estonteante. Em algumas cidades, não havia caixões suficientes e os cemitérios não tinham capacidade para tantos enterros ao mesmo tempo. Faltavam alimentos, remédios e leitos”, relata um trecho do livro.
Em janeiro, antes de tomar posse pela segunda vez na Presidência da República, Rodrigues Alves morreu “espanholado”. O médico sanitarista Carlos Chagas assumiu o comando da operação de emergência e montou 27 pontos de atendimento médico pelo Rio de Janeiro.
São Paulo tinha pouco mais de 400 mil habitantes e entre outubro e dezembro registrou 5.328 óbitos. Com milhares de mortes, estima-se que um terço de cada população contraiu o vírus em Recife, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Embora se falasse na ação democrática do vírus, sem distinção de classes, a maioria dos mortos veio das camadas mais populares e negros e pardos.
É impressionante como tudo que falhou em 1918 principalmente nos Estados Unidos e no Brasil – líderes em mortes – se assemelha ao que tem acontecido na pandemia da Covid-19 de 2020. O combate foi marcado pela falta de coordenação das autoridades, negação incondicional de dois presidentes, precariedade nos atendimentos e nos medicamentos e esforço para esconder os números reais.
Nada disso, passou sem ser denunciado pela imprensa. Em Recife, um jornal colocou vários repórteres para verificarem diariamente a quantidade de enterros. Enquanto boatos espalhavam o medo e a paranoia, setores da sociedade civil se organizaram para salvar o máximo de pessoas. A história está aí para ensinar. Até agora, as histórias do passado não ajudaram em nada no combate da Covid-19.