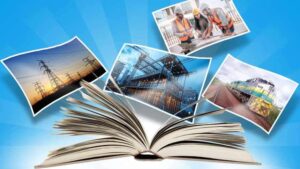Regimes autoritários costumam apagar narrativas de movimentos históricos de luta pela democracia. O passado é uma ameaça ao monopólio da memória que tais sistemas desejam estabelecer. Na China, por exemplo, atualmente, qualquer menção aos protestos ocorridos entre abril e junho de 1989 na Praça da Paz Celestial é censurada — e ilustra como a negação da história recente serve ao controle político.
Na extinta União Soviética de Joseph Stalin, as passagens sobre ações de oposição ao ditador comunista foram deletadas ou reescritas. Neste ano, os ataques à educação nos Estados Unidos propagados pelo presidente Donald Trump, têm o propósito de transformar as instituições em motores de propaganda, de modo a ocultar capítulos históricos controversos como colonialismo, escravatura e genocídio indígena.
Estes são alguns dos casos destacados pelo filósofo Jason Stanley em Apagando a história — Como os fascistas reescrevem o passado para controlar o futuro. O livro saiu nos Estados Unidos em maio e acaba de chegar ao Brasil pela L&PM.
Em sua análise, ele também aponta que símbolos de solidariedade entre grupos raciais, como a parceria dos atletas Tommie Smith, John Carlos e Peter Norman, durante os Jogos Olímpicos de 1968, em defesa dos direitos humanos, foram omitidos dos registros oficiais da história.
Da mesma forma, na Guerra Civil Americana, a recusa de “brancos pobres” em combater pelos Confederados, um exemplo de solidariedade interracial histórica, foi excluída dos livros escolares. Não foi diferente na Alemanha nazista de Hitler e na Itália facista de Mussolini na primeira metade do século 20.
A bola da vez é a chamada extrema direita, sempre a flertar com regimes de exceção, censura e manipulação, com uma arma a mais: o uso da tecnologia para fins de interesses ideológicos próprios – e que deve piorar nos próximos anos com as ferramentas de IA.
A partir de uma discussão marcada pelo bom senso, Stanley analisa o papel central da educação na construção (e na destruição) das democracias e expõe o verdadeiro perigo dos ataques da direita autoritária, identificando suas principais táticas e raízes intelectuais.
Para fundamentar sua análise, o autor recupera a experiência de sua própria família na Alemanha nazista. Sua avó, Ilse Stanley, atriz e integrante da vida cultural de Berlim, foi expulsa do teatro e da vida pública quando o Terceiro Reich tomou o poder.
A narrativa oficial do nazismo anulou o cosmopolitismo e o humanismo da cultura alemã, substituindo-os por um mito excludente e nacionalista. “Essa transformação mostra como uma nação culta e moderna pôde ser capturada pelo fascismo”, escreve o filósofo. O autor alerta para os riscos contemporâneos de repetição de erros semelhantes do passado, caso se negligencie a proteção da memória histórica.
Apagando a história, explica ele, funciona como um chamado global à ação ao mostrar por que o passado é uma linha de frente na luta contra o totalitarismo. Destaca os esforços da extrema direita em reescrever narrativas e desfazer avanços em questões relacionadas a raça, gênero, sexualidade e classe. “Uma lição do século passado é que regimes autoritários veem a história como ameaça. Sempre encontram formas de apagá-la ou ocultá-la para consolidar poder”, afirma.
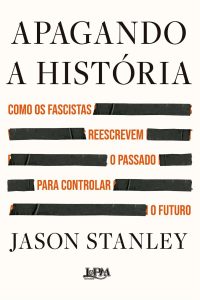
O essencial, escreve, é que a história oferece múltiplas perspectivas: “A democracia, rival do autoritarismo, exige o reconhecimento de uma realidade comum formada por diferentes olhares”. Expostos a essas visões, cidadãos aprendem a se ver como iguais na construção de uma narrativa nacional aberta à reflexão e à reimaginação coletiva.
A história, em uma democracia, é dinâmica e crítica, diz Stanley. Por isso, o apagamento interessa aos autoritários. Na tentativa de reduzi-la a uma única versão, atuam sobretudo na educação ao eliminar narrativas dos currículos.
Mas os regimes autoritários não conseguem passar a borracha nas experiências vividas nem nos legados inscritos nas gerações. É nessa resistência que sobrevive a possibilidade de recuperar perspectivas perdidas, especialmente frente ao fascismo, que divide as populações entre “nós” e “eles”, defende Stanley.
Hoje, segundo ele, observa-se a ascensão de movimentos de extrema direita em vários países, com técnicas próximas ao fascismo histórico: mobilização de milícias, manipulação do judiciário, ataques a direitos reprodutivos, perseguição a imigrantes e minorias sexuais, além de doutrinação no ensino baseada em um passado glorificado.
Nos Estados Unidos, a prática de apagar perspectivas históricas teve momentos marcantes, como na chamada Ameaça Vermelha comunista dos anos 1940 e 1950, quando o senador McCarthy e o Comitê de Atividades Antiamericanas (HUAC) perseguiram simpatizantes de esquerda nas universidades e em Hollywood. Professores, artistas e intelectuais foram denunciados, humilhados publicamente e perderam seus empregos em nome do combate ao comunismo.
Embora apresentada como defesa contra o autoritarismo soviético, essa campanha contradizia os ideais de liberdade que os Estados Unidos afirmavam defender. Stanley observa que o episódio mostra como o apagamento de narrativas pode ganhar espaço em contexto americano, o que se repete hoje, com políticos e ativistas de direita atacando professores e instituições por supostas ideologias de esquerda.
Esse movimento busca eliminar debates sobre hierarquia racial e patriarcado, inserindo-se num contexto transnacional. “Trata-se de parte de um ataque global contra a democracia liberal, que pressupõe igualdade, dignidade e uma educação voltada à responsabilidade cívica”, observa.
Stanley é autor de seis livros, incluindo o best-seller Como funciona o fascismo: a política do “nós” e “eles”, de 2018. Atualmente, é professor de filosofia na Munk School of Global Affairs and Public Policy da Universidade de Toronto.
Até o ano passado, ele lecionava na Universidade Yale, mas se transferiu para o Canadá por causa da crescente perseguição política e a perda de liberdade acadêmica, deflagradas pela Casa Branca.