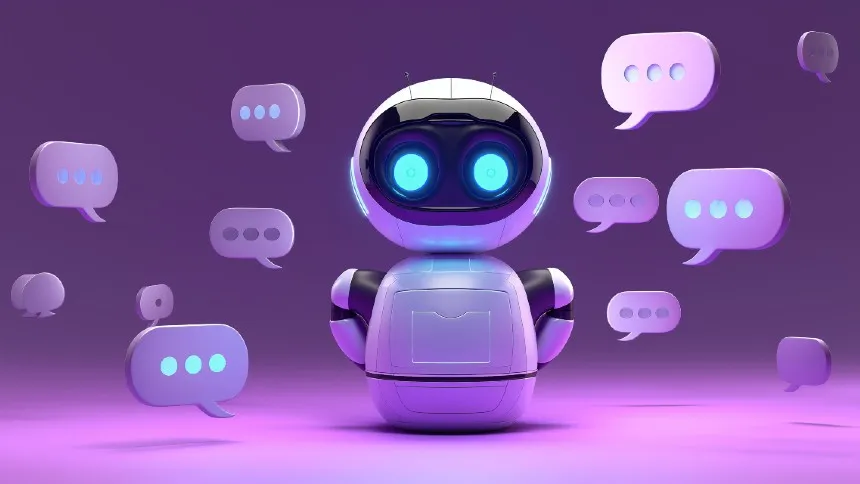Às 8h45 do dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos ainda viviam a ilusão de que reinava sobre o mundo a Pax Americana, a hegemonia econômica, militar, cultural e financeira que parecia ter sido conquistada após o fim da Guerra Fria. O restante do mundo era inofensivo para a invulnerável superpotência.
O cientista político Francis Fukuyama havia estabelecido o tom de euforia da época nove anos antes, em seu livro "The End of History and the Last Man", no qual afirmava que a história havia cessado de existir. Tudo o que restava era observar o desenrolar da expansão do modelo norte-americano pelo mundo e os pequenos eventos a ela associados.
A economia norte-americana, estimada pelo método da paridade do poder de compra, representava mais de 20% da economia mundial. A China, vivendo então aquilo que muitos acreditavam ser a etapa final de um surto de crescimento que se iniciara no final dos anos 1970, representava menos de 8%.
A Rússia, maior fragmento estatal produzido pelo colapso da União Soviética, já não possuía qualquer real poder militar convencional. Era liderada pelo recém-empossado Vladimir Putin, um desconhecido taciturno e incapaz de exercer seu poder sobre os oligarcas espalhafatosos que realmente controlavam o país, como Boris Berezovsky.
Tudo parecia muito tranquilo. Os americanos podiam relaxar e procurar por produtos, serviços e lazer no motor de busca líder de mercado, o Yahoo!, que havia assumido a posição dois anos antes, surpreendendo a todos ao superar o até então imbatível AltaVista. Trendsetters já utilizavam o estranhamente nomeado Google, cuja ascensão meteórica já incomodava o líder.
Os pequenos desvios de rota dos anos 1990 não haviam abalado essa confiança prometeica. Tais desvios incluíam ataques de grandes dimensões a alvos americanos no Quênia, na Tanzânia e no Iêmen, organizados por um pequeno grupo de fanáticos islâmicos, atuando sob o nome de Al-Qaeda e liderados pelo financista saudita Osama Bin Laden.
Para aquele período de exagerada confiança, esses eventos distantes não passavam de solavancos no caminho da inevitável ocidentalização do mundo. Nem mesmo o ataque de 1993 às Torres Gêmeas em Nova York, no qual fundamentalistas islâmicos haviam detonado um caminhão com 600 kg de explosivos no estacionamento de uma delas, matando seis pessoas, era mais que uma triste recordação.
A ideia dos terroristas havia sido a de tombar uma das torres sobre a outra, causando a morte das 70 mil pessoas que por lá circulavam diariamente. A megalomania do plano — derrubar os enormes prédios que simbolizavam a força e a autoconfiança da sociedade norte-americana — parecia traduzir apenas a incapacidade de seus autores de causar danos realmente severos à superpotência.
Às 8h46 do mesmo dia, porém, esse mundo de ilusões chegaria ao fim. O céu inacreditavelmente azul daquela manhã de fim de verão em Nova York seria o pano de fundo para cenas dantescas, mais adequadas às lendas sobre lutas entre deuses na mitologia grega ou às imagens escatológicas do Livro do Apocalipse.
Aviões comerciais, sequestrados por terroristas armados com estiletes de escritório, seriam lançados sobre as Torres Gêmeas e sobre o Pentágono. Um quarto aparelho seria derrubado durante a luta entre passageiros e sequestradores.
A Guerra do Afeganistão se revelaria tão imperdível quanto “inganhável”. Poucas semanas após seu início, o Talibã já estaria fora do poder, mas jamais desapareceria
As Torres Gêmeas colapsariam, não sem antes servirem de plataforma para que desesperados se lançassem das alturas rumo à morte certa, fugindo das chamas que se aproximavam sem deixar qualquer esperança de resgate.
Três mil pessoas perderam a vida nos ataques. O pecado não original da arrogância estratégica dos americanos havia sido punido com a expulsão do paraíso da ilusão de invulnerabilidade.
Três dias depois, o presidente George W. Bush recebia do Congresso poderes essencialmente ilimitados para utilizar o poderio norte-americano contra os autores do atentado. Estes eram a Al-Qaeda e seus anfitriões no Afeganistão, o grupo islâmico fundamentalista Talibã.
Apenas um membro do Congresso votaria contra tal concessão inédita de poderes, a democrata Barbara Lee, da Califórnia. Ela passaria muito tempo sob proteção, em virtude das muitas ameaças de morte que receberia de compatriotas revoltados com a ousadia de sua prudência. Sem dispor da mesma sabedoria, o governo norte-americano tomou a decisão de percorrer a estrada das más escolhas geopolíticas.
A Guerra do Afeganistão se revelaria tão imperdível quanto “inganhável”. Poucas semanas após seu início, o Talibã já estaria fora do poder, mas jamais desapareceria. Apenas se dissolveria na população civil do país e na de seu vizinho Paquistão, onde vive a maioria dos pashtuns, etnia que até hoje controla o grupo.
Foi dessa forma, dissolvido na população civil e aproveitando-se da infeliz decisão norte-americana de agregar ao front afegão uma outra guerra “inganhável” no Iraque, que o Talibã implementaria aquela que talvez tenha sido a mais impressionante estratégia de exaustão da história militar recente. Mais de US$ 2 trilhões seriam gastos pelos norte-americanos no esforço de derrotar seus frugais inimigos.
Vinte anos depois, na tarde também bonita de 16 de agosto de 2021, outro céu extremamente azul serviria como pano de fundo para cenas dantescas, desta vez em Cabul, a capital do Afeganistão. Desesperados com a aproximação irresistível do Talibã, muitos afegãos, em pânico e sem lugar a bordo dos aviões americanos que deixavam o país, optavam pela morte certa ao tentar viajar agarrados às asas e laterais dos aviões.
Despencariam dos céus pouco tempo após a decolagem. O apocalipse de Cabul produzia seus anjos caídos, assim como o apocalipse de Nova York o fizera vinte anos antes. Semanas depois o Talibã nomearia seu ministério, incluindo quatro ministros que foram prisioneiros dos americanos em Guantánamo. O Ministro do Interior e líder do grupo radical Rede Haqqani, Sirajuddin Haqqani, está na lista dos mais procurados do FBI, com recompensa de US$ 10 milhões oferecida por sua captura.
As aventuras militares no Afeganistão e no Iraque serviriam como distração enquanto o mundo mudava. Em 2021, a economia norte-americana, dimensionada pelo método da paridade do poder de compra, representa 15,97% da economia mundial, contra 18,78% da China. As projeções do FMI para 2026 indicam 14,76% e 20,37%, respectivamente.
A Rússia invadiu a Geórgia em 2008, retomou a Crimeia em 2014 e é hoje o principal player na Síria. Putin impôs seu poder sobre os oligarcas e Boris Berezovsky cometeu suicídio no exílio, em Londres. Os motores de busca chineses e os super apps do país rivalizam, ou talvez superem, seus similares ocidentais.
A hegemonia militar norte-americana desapareceu e a hegemonia econômica já não é incontestável
A hegemonia militar norte-americana desapareceu e a hegemonia econômica já não é incontestável. O universo digital asiático e a expansão do fundamentalismo religioso desafiam a hegemonia cultural ocidental. O mundo mudou.
Resta a ainda incontestável hegemonia financeira americana, com seus mercados e fundos incomparavelmente à frente dos concorrentes. Imaginar um ainda longínquo dia 11 de setembro de 2041, no qual os mercados financeiros poderão ter sido dominados pelos chineses, no qual os faria limers poderão ter incorporado o mandarin como idioma de trabalho, parece ser hoje uma invocação do impossível.
Entretanto, em um período histórico no qual aviões são arremessados contra as Torres Gêmeas, derrubando-as, e no qual um bando de radicais religiosos sem um exército propriamente dito derrota os Estados Unidos e seus aliados, o conceito de impossível deve ser revisto.
Talvez o mais prudente seja guardar em um canto da mente a advertência cuja formulação é atribuída a Napoleão, a qual diz que “impossível é uma palavra que somente pode ser encontrada no dicionário dos tolos”.
O 11 de setembro mudou o mundo. A retirada ocidental do Afeganistão não encerrou essa mudança. Ingressamos em uma era de novas incertezas. A decisão norte-americana tomada em 2001, de percorrer a estrada das más escolhas geopolíticas, continuará a modificar o mundo por muito tempo ainda.
*Antonio Gelis Filho é professor de Geopolítica para Administração na FGV-EAESP