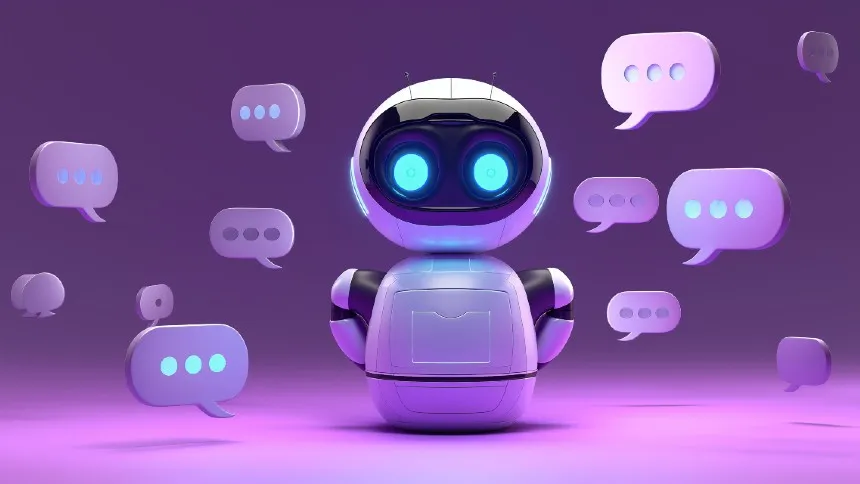Em 1994, eu era apenas um estagiário inocente, puro e besta tentando impressionar o chefe. Trabalhava na editoria de Esportes do “Jornal da Tarde” e impus um desafio a mim mesmo: entrevistar Maradona.
Uma semana antes, eu tinha conseguido entrevistar, por telefone, Gabriel Batistuta, goleador da Fiorentina da Itália e um dos maiores atacantes da história do futebol argentino.
Batistuta, muito simpático, não só teve paciência para ouvir meu sofrido portunhol como no fim do papo me deu o telefone da casa de Maradona em Buenos Aires, com a condição que eu não contasse a ele quem me passara o número.
A partir de então, passei a ligar cerca de três a quatro vezes por dia para casa de Dieguito. Quase sempre caía na secretária eletrônica. Era a voz de uma mulher, que só podia ser Claudia Villafañe, esposa de Maradona (de 1984 a 2003) e mãe de suas duas filhas, Dalma e Giannina.
De vez em quando, Claudia atendia. Educada, dizia sempre a mesma coisa: “Dieguito não está. Telefone mais tarde”. Como ela não demonstrava irritação e sempre me dava uma certa esperança, não desisti tão cedo.
Uma vez, ao ligar num sábado à tarde, durante um plantão, uma voz de homem atendeu. Só disse “Olá”. Meu coração disparou. Pulei da cadeira: “Dom Diego?”, perguntei, assustado. “Não, o Papa. Boludo (impropério muito popular entre os hermanos, algo como o “imbecil” daqui)”.
A linha caiu. Liguei novamente e deu na secretária eletrônica. Nunca fiquei sabendo se eu tinha ligado errado, se algum empregado da casa atendeu e se irritou com a minha pergunta idiota ou se realmente se tratava Diego Armando Maradona.
Ao saber hoje, por volta da hora do almoço, da morte Maradona, aos 60 anos, vítima de uma parada respiratória, percebi o quanto, naquele meados de 1994, eu tinha sido, de fato, um imbecil.
Primeiro, pela ingenuidade de achar que bastaria telefonar para casa de uma lenda do futebol mundial, famoso por manter os jornalistas à distância, à bala se fosse preciso (naquele mesmo ano ele tinha apontado uma espingarda em direção a quatro jornalistas, que insistiam em rodear a sua casa), para se iniciar um colóquio sobre o futebol e os prazeres da vida.
Segundo, naquele segundo semestre de 1994, Maradona começava uma longa e interminável derrocada, física e emocional, com direito a muitos altos e baixos, após ser suspenso por doping em plena Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Não seria uma conversa com um estagiário brasileiro que o faria espantar os seus demônios. E quem disse que ele estava disposto a mudar de vida?
Ao contrário de muitos outras estrelas do futebol, que algum momento da vida demonstraram arrependimento pelos excessos cometidos fora de campo (Sócrates, morto de cirrose, admitiu, nos últimos dias de vida, ser alcóolatra), Maradona nunca se arrependeu de nada.
“Se morrer, quero voltar a nascer e ser jogador de futebol. E quero voltar a ser Diego Armando Maradona”, dizia. Era como se o jogador genial dentro de campo e o homem irascível fora dele fossem indissociáveis. E talvez fossem mesmo.
Se fora das quatro linhas, Maradona nunca foi uma unanimidade (as escolhas políticas - morreu no mesmo dia do ídolo Fidel Castro -, as violentas brigas com jornalistas, os desentendimento com os filhos, as declarações homofóbicas e racistas fizeram dele um sujeito, para muitos, intragável), dentro de campo ninguém jamais ousou contestá-lo.
Maradona cresceu vendo Rivellino, a sua grande inspiração, jogar, Igualmente canhoto, o ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira foi um dos maiores meias de todos os tempos, mas não está na galeria dos gênios.
O que fez Maradona se aproximar de Pelé foi a sua capacidade de unir, com a mesma intensidade, técnica e habilidade, e a frieza de crescer em decisões. Pelé ganhou três Copas do Mundo. Maradona chegou a duas decisões, ganhou uma, sempre como protagonista.
Os dois, unidos pela genialidade, eram antípodas fora do campo. Pelé, antes das decisões, mantinha o hábito de dormir no vestiário. Era o jeito de se concentrar. Ai de quem o acordasse. Maradona gostava de se aquecer no gramado, quase sempre fazendo malabarismos incríveis com a bola - era a sua forma de intimidar o adversário.
Pelé ficou conhecido por não se posicionar politicamente, nem em tempos de ditadura militar. Maradona fez questão de ser amigo pessoal de Hugo Chávez, Nicolás Maduro e Fidel Castro. Por reverência, tinha uma tatuagem do ditador cubano na perna e a de Che Guevara no braço direito.
Se para muitos Pelé foi mais completo, por unir, no mesmo grau de excelência, técnica e habilidade, além de um preparo físico invejável, não há dúvida de que Maradona foi mais “fantasista”. E não só na maneira de jogar, mas por levar a campo todas as suas virtudes e contradições - nada é mais Maradona do que gol com a “Mão de Deus” contra a Inglaterra na Copa do México, em 1986, conquistada praticamente por ele.
Não por acaso, o escritor uruguaio Eduardo Galeano o definiu como um “deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses”. Outro Deus, Pelé, ao saber da morte de Maradona, declarou: “Um dia vamos bater bola no céu”. O “Rei” corre o risco de não encontrar o genial argentino por lá.
Tom Cardoso, jornalista e escritor, é autor, entre outros livros, da biografia do jornalista Tarso de Castro, do jogador Sócrates e do político Sérgio Cabral. Foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti 2012 com o livro-reportagem "O Cofre do Dr. Rui". Em janeiro de 2020, lança a biografia da cantora Nara Leão.