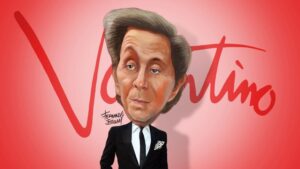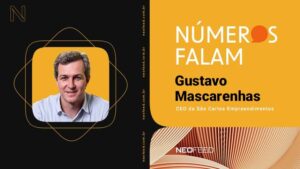O antropólogo carioca Michel Alcoforado tinha 23 anos em 2010, quando, ao voltar de férias para o Brasil, vindo do Canadá, viu sua atenção voltada para um casal de brasileiros no aeroporto de Miami. Marido e mulher foram interpelados pelas autoridades americanas, pois viajavam sem nenhuma bagagem. Os dois explicaram que eram ricos, estavam ali para gastar e pretendiam comprar tudo — inclusive escovas de dente.
A imigração desconfiou e levou os dois para interrogatório. Até descobrir que falavam a verdade. Na carteira do homem havia US$ 9,5 mil e seis cartões de crédito black. Foram liberados, mas antes de deixar o local, descobriram que o Porsche reservado a US$ 700 por dia não estava disponível na locadora do aeroporto. O mal-estar só acabou quando Alcoforado chegou para ajudá-los. Eles não sabiam falar inglês direito.
A partir daquele episódio, Alcoforado escolheu desvendar o mundo das pessoas com muito dinheiro para seu doutorado na University of British Columbia, no Canadá, onde também trabalhou como consultor estratégico para grandes marcas internacionais.
Nesse processo, ele conviveu com 85 milionários e até trabalhou para alguns deles, de modo a bancar a cara rotina de frequentar aquele mundo de ostentação e aparências. O resultado de sua investigação chega às livrarias com o livro Coisa de rico — A vida dos endinheirados brasileiros, da Editora Todavia.
A obra é uma mistura de narrativa bem-humorada, sarcástica e mordaz daquele menos de 1% da população no topo da pirâmide e da vida social no País. Mas, como ele diz em entrevista ao NeoFeed, o estudo não é só um retrato dos ricos, mas de toda a sociedade brasileira e de seus conflitos de classes.
O choque vivido por Alcoforado ao ver o comportamento do casal brasileiro em Miami não foi acaso nem desvio de caráter dos compatriotas, mas um fenômeno social: uma nação ansiosa por erguer muros, traçar fronteiras e afirmar status via consumo.
Entre suas conclusões, o antropólogo destaca que muitos milionários brasileiros não se veem como ricos — sempre há alguém “mais no topo”.
Entre os exemplos citados por ele estão, além do casal emergente, a herdeira discreta na Suíça e o embaixador nostálgico do “antigo” Itamaraty. Como “antropólogo do luxo”, o autor observa que o essencial não é a conta bancária, mas os códigos de convivência que mantêm afastados os “de fora” longe do convívio entre eles.

Para novos ricos, ostentar grifes é afirmação de status; para os tradicionais, é arrivismo — estes preferem sinais discretos, decodificáveis apenas por seus pares. Esse jogo de distinção permeia bairros, arquitetura, viagens, estudos e linguagem.
Segundo Alcoforado, a maior disputa das elites não é por impérios, mas pelas “coisas de rico”: privilégios alcançados antes por quem tem coragem e habilidade.
Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista:
Os novos ricos têm dificuldade para se comportar como ricos?
Sim. Ao ascender socialmente, eles entram em um mundo com códigos que não conhecem — sobre o que comer, para onde viajar, como se relacionar. E precisam aprender rápido para serem reconhecidos como ricos entre os ricos. O problema não é ter dinheiro, mas dominar esse novo repertório.
Seria como aprender a se enturmar?
Exatamente.
Por que Miami atrai tantos ricos e novos ricos brasileiros?
Porque oferece um “pacote pronto” de delicadeza, sem necessidade de curadoria. Miami é vista por eles como um paraíso para construir a identidade de rico. No Brasil, tentam replicar o modelo em lugares como Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Anália Franco, em São Paulo, Praia da Boa Viagem, em Recife, ou Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ou seja, criando “Miamis brasileiras”.
"Ao ascender socialmente, eles entram em um mundo com códigos que não conhecem"
Como se comportar como um rico tradicional, sem ostentação?
Na verdade, tanto tradicionais como emergentes ostentam, mas de formas diferentes. O primeiro grupo busca parecer rico “desde sempre”, cria uma narrativa de tradição herdada. Não precisa comprar o móvel mais novo: diz que herdou tudo da família, da avó ou da bisavó. Desse modo, apagam as origens recentes e reforçam amizades e discursos que sustentam essa imagem.
O rico tradicional discrimina o novo rico?
Sim. Tradicionais mantêm distância por medo de ver seu estilo copiado de forma “tosca”, mas invejam o poder financeiro dos emergentes. Estes, por sua vez, acham os tradicionais esnobes e excessivamente contidos, mas invejam sua distinção herdada.

Quanto tempo levou sua pesquisa?
Quinze anos, começando com o evento em Miami e seguindo até a conclusão do livro. E, mesmo depois, vejo coisas que me levam a pensar: isso daria mais um capítulo do meu estudo.
E quantas pessoas foram entrevistadas?
Foram 85 entrevistas estruturadas, além da observação participante que tive entre eles — frequentando restaurantes e mansões em lugares como Dubai, Genebra, Paris, Fazenda Boa Vista, Quinta da Baroneza, Faria Lima e Morumbi — para captar o que não era dito por eles para mim nas entrevistas.
Quem pagou a pesquisa?
Tive bolsa de doutorado. Depois, os próprios ricos passaram a me contratar — cursos, palestras em suas casas… E reinvesti todo o dinheiro no trabalho. Para eles, era coisa de rico ter um antropólogo ao lado.
No subtítulo do livro, você usa “endinheirados”. Ter dinheiro basta para parecer rico?
Não basta. Dinheiro é só o primeiro passo. O verdadeiro reconhecimento vem de saber performar riqueza para que os outros o vejam como rico.
Houve retorno desses ricos quanto ao que você escreveu?
Não, porque ninguém se acha rico no Brasil; todos pensam que escrevi sobre “o outro”, nada tem a ver com eles.
"Toda a sociedade brasileira performa diferenças de classe, cada grupo com seus próprios objetos e marcadores"
Quais códigos precisam ser dominados para parecer rico?
Primeiro, parecer sempre ocupado. Por isso, todos têm secretárias. Depois, citar famosos pelo primeiro nome; falar de cifras enormes (“dropping numbers”); e ter “prontidão” para aceitar convites imediatos, como viajar para Paris na semana da moda. Há também o “domínio da cena”: sentir-se à vontade com vários sofás, talheres e copos numa mansão — o que é estranho para quem vem da classe média, por exemplo.
Isso inclui nível cultural?
Não. Cultura, no Brasil, também é “coisificada”: livros comprados por metro, table-books para enfeitar mesas, feitos para não serem lidos, destinos de viagens e restaurantes como símbolos também fazem parte disso.
Esses códigos aparecem em outras classes?
Sim. Toda a sociedade brasileira performa diferenças de classe, cada grupo com seus próprios objetos e marcadores. Por isso, enfatizo que meu livro é sobre como essa diferença é produzida, não só sobre os ricos.
De que forma a escolha de bairros, viagens e educação funciona como marcador social entre os ricos?
Esses atributos são fundamentais como organizadores de distância. O que faz um rico ser rico é a capacidade que ele tem de manter os que ele considera não ricos longe. Dentro desse processo, marcadores de distância são fundamentais para manter a percepção de quem é quem operando fortemente.
Por que você usa o humor como apoio narrativo?
O humor foi uma estratégia para evitar dois extremos comuns: o deslumbramento diante da vida dos ricos ou o tom de denúncia sobre desigualdade. Meu foco não era indivíduos, mas o modelo de sociedade que mantém alguns muito ricos e outros muito pobres. O deboche serviu para escapar desse binarismo e evidenciar o absurdo presente nesse universo — e em nós mesmos —, ajudando a desnaturalizar algo que muitos veem como normal.