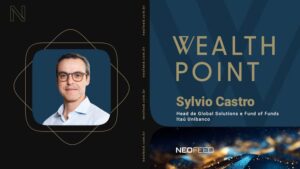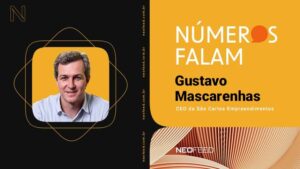Lançado recentemente, por cinco agências da Organização das Nações Unidas (ONU), o relatório América Latina e Caribe — Panorama Regional de Segurança Alimentar e Nutrição 2024 é o retrato de uma região marcada por conquistas notáveis, ameaças iminentes e paradoxos profundos.
Graças a melhorias nas políticas de proteção social, à recuperação econômica e à redução da pobreza, registradas em alguns países, a incidência de insegurança alimentar moderada ou grave reduziu pelo segundo ano consecutivo. Tais avanços, porém, podem ser anulados pelo recrudescimento do caos climático.
Atualmente, os latino-americanos e caribenhos com acesso restrito ou sem acesso à comida somam 187,6 milhões de pessoas, o equivalente a 28,2% da população. É ainda muita gente, mas elas representam quase 20 milhões a menos do que em 2022. Pela primeira vez em uma década, os índices de subalimentação e fome ficam abaixo da média global — exatos 0,7 pontos percentuais.
Por outro lado, a América Latina e o Caribe, onde se produz grande parte da comida que alimenta o mundo, estão na área do planeta mais exposta aos eventos climáticos extremos, depois da Ásia, informam os analistas da ONU. De suas nações, 74% estão sujeitas a fenômenos meteorológicos cada vez mais intensos e frequentes, como secas, enchentes e tempestades. E, o Brasil é uma delas.
Sob efeito do aquecimento global, a produtividade agrícola cai e as cadeias agroalimentares são interrompidas. Aqui, por exemplo, a queda foi de 5,2% no primeiro trimestre de 2022, em comparação ao mesmo período do ano anterior, puxada pelo baixo rendimento das safras de soja e de milho.
Das dez culturas avaliadas no país, entre 2017 e 2022, a única com aumento na produção foi a banana — e, mesmo assim, com uma variação de apenas 0,61%. Com a diminuição da oferta, o preço dos alimentos frescos e nutritivos sobe e o acesso a refeições equilibradas fica ainda mais distante.
Para se ter ideia, em nenhum lugar do mundo a dieta saudável é tão cara quanto na América Latina e no Caribe: US$ 4,56 ao dia, per capita, contra a média global de US$ 3,96. Como resultado, 182,9 milhões de pessoas na região até têm o que comer, mas comem mal. E sofrem, sobretudo, os mais vulneráveis — as mulheres, as crianças, a população rural e as comunidades indígenas.
Por comer mal, entenda-se ingerir sobretudo alimentos ultraprocessados. Como são ricos em sal, açúcares, gorduras e aditivos sintéticos, seu consumo regular está associado ao aumento no risco de uma série de doenças. Da desnutrição à obesidade; dos distúrbios cardiovasculares ao diabetes e até alguns tipos de câncer.
Um estudo de pesquisadores brasileiros publicado, em 2022, na revista especializada American Journal of Preventive Medicine, é aterrador: em 2019, os industrializados foram associados à 57 mil mortes prematuras no país.
Mas, responsáveis por cerca de 30% das calorias ingeridas diariamente no Brasil, esses produtos são a comida possível nos chamados desertos alimentares, onde a oferta de alimentos in natura e nutritivos é escassa ou até inexistente.
Da fazenda ao prato do consumidor, as cadeias agroalimentares são complexas e longas. Assim, se a comida saudável chega às periferias, quando chega, os produtos são caros demais para uma população empobrecida — frequentemente miserável.
Enquanto isso, o preço dos ultraprocessados estão cada vez mais menores. Entre 2006 e 2021, no Brasil, os refrigerantes ficaram 43% mais baratos, por exemplo, mostram os dados do Instituto Escolhas. No mesmo período, porém, a inflação das frutas foi 89% superior ao IPCA.
De pior qualidade
As mudanças climáticas não comprometem apenas a disponibilidade dos alimentos in natura, como lhes prejudica a qualidade. As ondas severas de calor, por exemplo, reduzem as concentrações de ferro e zinco dos grãos. O leite obtido de vacas criadas em ambientes de temperaturas mais altas é menos nutritivo.
Para piorar, há a escassez hídrica a complicar ainda mais o cenário. Eventos hidrológicos severos, como secas, inundações, aumento do nível do mar e mudanças nos padrões de chuva podem não diminuir a oferta de água, como contaminar a terra e levar à salinização de fontes doces, entre outros desastres — o que, obviamente, afeta a produção de alimentos.
“No Brasil, uma pessoa em situação de insegurança hídrica de moderada a grave tem 3,4 vezes mais risco de experimentar insegurança alimentar moderada ou grave, em comparação a quem tem acesso garantido à água”, escrevem os autores do relatório Panorama.
O que isso significa na prática? Até 2035, cerca de 74 milhões de brasileiros correm o risco de ficar sem acesso à água, em maior ou menor grau, alertam os especialistas do Plano Nacional de Segurança Hídrica, lançado em 2019, pelo governo federal. Ou seja, se o colapso climático não for contido, a tragédia está anunciada — na América Latina e no Caribe e no resto do planeta.
“É importante implementar uma resposta abrangente, baseada em políticas e ações projetadas para fortalecer a capacidade dos sistemas agroalimentares", defendeu Mario Lubetkin, diretor da FAO, a agência da ONU para agricultura e alimentação, no lançamento do relatório. "Essa resiliência nos permite antecipar, prevenir, absorver, adaptar e transformar de forma positiva, eficiente e eficaz diante dos diversos riscos, incluindo os desafios associados às mudanças climáticas e eventos extremos."