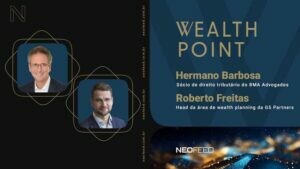Em outubro do ano passado, cumprindo um ritual obrigatório, que se repetia há décadas, na mesma época, o empresário Carlos Tilkian, CEO e controlador da Estrela, a maior fabricante brasileira de brinquedos, viajou para a China. Mais precisamente para Hong Kong, onde fecharia contratos de fornecimento de itens que comporiam a coleção da marca no ano seguinte com parceiros locais. “Nossa programação previa que os brinquedos chineses representariam 20% do nosso portfólio, em 2020”, diz Tilkian. “O restante seria de produzido internamente.”
A decisão durou pouco, atropelada pelo coronavirus, o vírus originário da cidade de Wuhan, na província de Hubei, que em pouco tempo deu lugar a uma pandemia que colocou a economia do planeta de pernas para o ar, fechou fronteiras nacionais e desorganizou o comércio internacional, ao mesmo tempo em que já infectou 8 milhões de pessoas e ceifou cerca de 500 mil vidas até o fim da primeira quinzena de junho.
Diante desse cenário desfavorável, a Estrela tratou, logo no início do ano, de rever e reorganizar sua estratégia de negócios para 2020, elevando a fatia de produção própria em suas fábricas de Itabira(SP), Três Pontes (MG), e Ribeirópolis (SE) para 95%, mantendo apenas um naco com fornecedores de fora. “Sempre evitamos depender demasiadamente de terceiros”, afirma Tilkian. “Para nós, a China sempre foi uma fonte complementar, as importações nunca passaram de 35% do faturamento.”
Graças à essa política, a Estrela pôde evitar os sobressaltos trazidos pela pandemia, que em um primeiro momento, desorganizou setores inteiros da economia e deve provocar uma recessão mundial—a maior desde o fim da 2ª Guerra, em 1945 – de pelo menos 6% neste ano, na hipótese mais benigna, ou 7,3%, caso haja o repique de uma segunda onda, conforme projeções da OCDE.
Trata-se, para Tilkian, da confirmação do acerto da recusa em mergulhar no efeito manada provocado pela globalização da cadeia de suprimentos, que ganhou força nos anos 1990, nos mais diferentes ramos da indústria e levou ao fechamento de fábricas e à extinção de empregos ao redor do mundo, em favor da indústria da China. “Fomos muito criticados por não fecharmos as nossas portas e terceirizar a fabricação de nossos produtos na China”, diz Tilkian. “Muita gente achava que era loucura nossa.”
A teimosia valeu a pena. Sem os sobressaltos provocados pela desorganização da cadeia global de produção, a Estrela começou a estocar os brinquedos e jogos que serão desovados no último trimestre do ano, que responde por 75% das vendas, sustentadas por eventos como Dia da Criança, Black Friday e Natal.
Dona de um faturamento de R$ 150 milhões, no ano passado, a empresa espera fechar 2020 com um crescimento de dois dígitos, num mercado que deve encolher 10%. “Esperamos aumentar nossa fatia às custas da concorrência”, diz Tilkian.
A trajetória da Estrela é um exercício de sobrevivência numa economia globalizada, caracterizada pela derrubada das fronteiras nacionais e pela livre circulação de mercadoria e pessoas, que, em apenas três décadas, a partir dos anos 1990, transformou um país essencialmente agrícola e sub-industrializado, como a China, numa espécie de fábrica do mundo e numa potência econômica, superada apenas pelos Estados Unidos.
Tendo como principais atrativos uma mão de obra barata, abundante, dócil e pouco reivindicativa, que cresceu de 95 milhões de trabalhadores urbanos, em 1978, para 283 milhões, em 2006, bem como generosos incentivos fiscais, a China recebeu montanhas de dinheiro do exterior, de acordo com o The Observatory of Economic Complexity, site especializado em comércio internacional, do MIT Media Lab, dos Estados Unidos. De escassos US$ 265 milhões, em 1981, o volume de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) aplicado na China chegou a US$ 138 bilhões, em 2007, às vésperas da crise financeira global.
Nesse período, o país do presidente Xi Jinping transformou-se, ao mesmo tempo, no maior exportador do mundo, à frente dos Estados Unidos e da Alemanha, com US$ 2,6 trilhões, em 2018, (superior ao PIB do Brasil, de US$ 1,8 trilhão) e no maior importador, com US$ 1,3 trilhão.
E mais: ostentando um PIB de US$ 14,4 trilhões, no mesmo ano, nas pegadas do americano, de US$ 21 trilhões, a China se consolidou como a segunda economia mundial, pelas contas do Fundo Monetário Internacional (FMI). Detalhe: em 1990, quando sua inserção no processo de globalização ainda engatinhava, o PIB chinês era de apenas US$ 360 bilhões, inferior aos US$ 462 bilhões do brasileiro.
Em função desse gigantismo, a China tornou-se um símbolo da globalização das cadeias de valor da produção, que respondem por 52% do comércio internacional. Isoladamente, ela representa 16% do PIB mundial. Essa participação cresceu aceleradamente desde sua admissão na Organização Mundial do Comércio (OMC), no fim de 2001.
A sino-dependência na cadeia de produção envolveu praticamente todos os ramos da indústria, nos cinco continentes
A sino-dependência na cadeia de produção envolveu praticamente todos os ramos da indústria, nos cinco continentes. Num ritmo alucinante, cada vez mais amplas parcelas da produção de alimentos e bebidas a eletrônicos de consumo, passando por especialidades químicas e farmacêuticas, insumos petroquímicos e celulares, entre outras, passaram a depender total ou parcialmente da contribuição dos parceiros chineses, em particular.
Entre os outros citados, obviamente, figuram equipamentos vitais para combater a pandemia, como respiradores, dos quais o país detém, 25% da produção mundial, e materiais de proteção pessoal, os EPIs itens em que há praticamente um monopólio dos fornecedores chineses, com 90%, e cuja escassez, na pandemia, arranhou a imagem da China perante a opinião pública mundial.
Até eclodir o surto de coronavirus, parecia, para os mais desavisados, que a economia globalizada já superara a turbulências provocadas pela crise financeira de 2008, deflagrada pelo colapso do banco americano Lehman Brothers e começava a se recuperar e prosperar, ainda que num ritmo mais lento, marcado por estagnação do comércio e dos investimentos, fenômeno que a revista britânica The Economist, batizou de “slowbalization”.
Essa visão começou a se deteriorar no último dia de 2019, com o anúncio de que a Organização Mundial da Saúde (OMS) fora alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. O causador era o coronavírus, que rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro, numa combinação de mortes, sofrimento, destruição de empregos, empresas e riquezas numa escala sem precedentes na história da humanidade.
Inevitavelmente, dado o tamanho do desastre, que recém começa a ser dimensionado (a OMC projeta uma queda de um terço do comércio mundial neste ano e a Unctad estima em até 40% a redução do fluxo de IDE), entrou na ordem do dia uma questão: qual o futuro da globalização? Estará esse sistema que gerou riquezas, aproximou e integrou as cadeias de produção de dezenas de países, promoveu um dos mais longos ciclos de prosperidade já vistos, em xeque? Já é mesmo a hora, como propõe o título da capa de uma edição recente da The Economist, de se dizer “goodbye globalisation”? Ou, no sentido oposto, como supõem as almas mais otimistas, é só amainar o surto da “gripezinha” e tudo voltará a ser como antes?
Para Ricardo Gold, da Bain & Company, embora seja inevitável que aconteçam mudanças, é difícil acreditar que o processo de globalização seja revertido
Para o engenheiro Ricardo Gold, sócio da consultoria de gestão estratégica Bain & Company, embora seja inevitável que aconteçam mudanças, mais ou menos profundas, na esteira da pandemia, é difícil acreditar que o processo de globalização seja revertido. “Com alguns ajustes, o mais provável é que a velocidade de expansão será menor”, afirma Gold.
E quem deverá decidir sobre esse assunto, que rumo tomará a globalização é o setor privado, em sua opinião. “É preciso ficar claro que a globalização nunca foi desenhada por decreto de governos”, afirma Gold, baseado na filial da consultoria em Santiago, no Chile. “Ela surgiu pela ação de milhares de empresas, de todos os quadrantes do mundo.”
Com isso, ele se refere aos movimentos protecionistas de alguns governos, sobretudo nos países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, visando a estimular a volta para casa de suas empresas. Trocado em miúdos, significa o abandono da estratégia, vigente nas últimas três décadas, de transferir a produção inteiramente ou em parte para fornecedores terceirizados na China e em países de sua órbita de influência, como Vietnã, Camboja, Laos, Malásia, Bangladesh e Paquistão, em favor da fabricação em seus endereços de origem. “A resposta exagerada de alguns governos pode aumentar”, acredita Gold. “Mas a última palavra será das próprias empresas.”
O caso mais emblemático, sem dúvida, é do presidente Donald Trump, que desde sua posse, em janeiro de 2017, vem pressionando grandes corporações americanas a repatriarem suas linhas de produção e empregos. É o caso da Intel e da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, pressionadas a construir novas fábricas de chips semicondutores nos Estados Unidos.
A Fiat-Chrysler, por exemplo, foi uma das primeiras em ceder ao assédio de Trump, e anunciou, no começo deste ano, a transferência de uma fábrica de caminhões localizada no México para o Estado de Michigan. “É difícil que muitas empresas façam esse caminho de volta para os Estados Unidos”, diz Gold. “Os custos de produção são muito elevados.”
Ele não descarta, no entanto, pelo menos num primeiro momento, um surto de protecionismo e de nacionalismo nos países mais avançados, previsto pela The Economist. É o caso do Japão, que decidiu subsidiar empresas que repatriarem suas fábricas do exterior. Ou da Índia, onde o primeiro ministro Narendra Modi anunciou, oficialmente, que uma nova era de autossuficiência da cadeia produtiva estava começando.
Por seu turno, o ministro de Economia e Finanças da França, Bruno Le Maire, orientou as empresas a reavaliar suas cadeias de suprimentos para se tornarem menos dependentes da China e de outros países asiáticos. Le Maire, que diz estar disposto, inclusive, a adquirir participações ou mesmo nacionalizar aquelas companhias em dificuldades financeiras, está em sintonia com seu chefe, o presidente Emannuel Macron, que integra o time dos que se poderia chamar de globalcéticos. Em entrevista ao Financial Times, Macron externou sua posição. “Está claro que esse tipo de globalização está encerrando seu ciclo”, afirmou.
Esses exemplos mostram que, do ponto de vista macro, o que se pode esperar no pós-pandemia é um maior protagonismo do Estado, preconizado por Tilkian, da Estrela, e admitido com restrições por Gold, da Bain. Para Tilkian, os percalços enfrentados pela globalização colocam na ordem do dia a sempre adiada adoção de uma Política Industrial, no Brasil. “Meu pai era empresário do setor têxtil e desde pequeno eu ouvia as pessoas clamando por um plano consistente de fortalecimento da indústria, o que não aconteceu até hoje”, diz Tilkian.
Na verdade, o que se viu foi exatamente o contrário, como mostra um trabalho do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI). Em 2018, a participação da indústria de transformação representou apenas 11,2 % na formação do PIB brasileiro, um pouco menos da metade dos 20% registrados em 1980.
“É preciso estimular setores com conteúdo local, como o agronegócio e o de papel e celulose”, pondera Gold. “Não pode abarcar indiscriminadamente todos os setores com subsídios, em detrimento do consumidor, que acaba pagando mais caro pelos produtos protegidos por empresas sem competitividade”. Para Tilkian, além da criação de programas de financiamento, uma política consistente para aumentar a musculatura e a competitividade da indústria requer eliminar o “Custo Brasil”, com mudanças na tributação, melhoria da infraestrutura logística e redução da burocracia, entre outras providências.
Trata-se de uma fatura salgada, como mostra um estudo divulgado pelo Ministério da Economia. A conta do “Custo Brasil” é de R$ 1,5 trilhão por ano, o equivalente a 22% do PIB do país. Caso esse tipo de estorvo seja eliminado, o Brasil poderá produzir internamente parcelas importante de seus insumos. É o caso do setor químico, que importa 43% das matérias primas que utiliza.
As empresas não deverão ficar à espera das decisões e das veleidades protecionistas ‘de seus respectivos governos
Evidentemente, as empresas não deverão ficar à espera das decisões e das veleidades protecionistas ‘de seus respectivos governos. “É preciso considerar que a globalização não vai acabar”, sustenta Gold. “Poderá seguir a uma velocidade menor, sofrer restrições, adaptações e exigir aperfeiçoamentos de parte das empresas, mas é um fenômeno que veio para ficar.”
No curto prazo, inclusive, ele acredita que não necessariamente haverá um êxodo da China. Para Gold, é preciso considerar que, se é certo que em setores que exigem menos capital investido, como vestuário e bebidas, é mais fácil dar adeus à China e se estabelecer em outros cantos, em outros é bem mais complicado. Ele cita os ramos de eletrônicos de consumo e, principalmente os de capital intensivo, como fármacos e petroquímico.
“Um complexo petroquímico exige investimento de US$ 5 bilhões a US$ 10 bilhões, o que é muito dinheiro.” Em setores como o de eletrônicos de consumo há um outro fator que torna mais difícil fazer as malas: o atrativo, gigantesco mercado chinês de consumo. É um motivo suficiente para que a Apple tenha resolvido manter ali a maior parte da produção de seus smartphones, vendidos aos milhões de unidades para os consumidores chineses.
Tim Cook, o CEO da Apple, inclusive, não escondeu sua satisfação com essa escolha num encontro com investidores. “Nós estamos satisfeitos com a resiliência e a flexibilidade de nossa cadeia global de suprimentos”, afirmou. Gold alerta que é preciso considerar, também, os desafios implícitos numa reconfiguração total da cadeia de suprimentos, provocado pela substituição dos fornecedores globais. Pelos cálculos do US-China Business Council, que abriga empresas dos dois países, são necessários cinco anos para que uma cadeia de suprimentos global restruturada atinja um patamar de baixos custos semelhantes ao obtido anteriormente na China,
Isso não significa, na verdade, que a China deverá ultrapassar incólume a crise provocada pela pandemia e que a globalização, tal como a conhecemos, voltará ao velho normal. Em primeiro lugar, é muito provável que a aversão ao risco deverá crescer, daqui para a frente. Nesse caso, não se trata apenas da ameaça de um eventual recrudescimento da crise sanitária.
Gold, da Bain, enumera outras ameaças, como uma possível escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, os efeitos do Brexit e mesmo calamidades climáticas, fatores que ao longo do tempo foram subestimados, em favor dos cálculos financeiros, e que agora precisam ser levadas em consideração pelos gestores das cadeias globais de suprimentos.
“Por isso, grandes decisões devem ser postergadas no curto e no médio prazos”, diz Gold. “Nesse cenário de pandemia, o investidor só se animará a investir quando uma vacina ou a cura aparecerem.” Paradoxalmente, o problema central não é dinheiro, mas a demanda, que está retraída. Calcula-se que os 2.000 maiores grupos multinacionais do mundo detenham US$ 14,2 trilhões para investir. Nessa turma estão incluídos os grandalhões do setor digital, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon e Facebook, que acumulam em conjunto US$ 270 bilhões em caixa.
Em lugar da dependência de um fornecedor majoritário, os especialistas recomendam a diversificação de fontes de abastecimento
Paralelamente, a primazia de fatores como custos baixos de inventário e estoques mínimos deverá ser relativizada em favor da segurança no abastecimento entre os gestores da cadeia de suprimentos. Em lugar da dependência de um fornecedor majoritário, os especialistas recomendam a diversificação de fontes de abastecimento. “É recomendável um ciclo balanceado, menos centrado num único fornecedor”, diz Gold.
Um modelo sempre lembrado de flexibilização é o da montadora japonesa Toyota, que costuma ter um fornecedor principal para seus principais componentes, ao qual confia 50% das encomendas, e outros dois que dividem os restantes 50%. Nesse sentido, empresas como a Microsoft e o Google já decidiram abrir fábricas no Vietnã, para a produção do tablet Surface e do smartphone Pixel, respectivamente.
Na sequência da diversificação, aparece a tendência à regionalização da cadeia de suprimentos. A ideia básica é ficar mais perto do cliente, evitando que o produto da empresa fique viajando milhares de quilômetros, desnecessariamente, entre continentes até chegar ao consumidor final.
No continente americano, as alternativas mais viáveis são países como a Colômbia e Costa Rica. Para abastecer a Europa são lembrados Marrocos e Tunísia, no norte da África, ou países do Leste europeu. Na Ásia, os candidatos a substituir a China ou abiscoitar uma parte de sua produção terceirizada são Índia, Bangladesh e Vietnã, que já mantêm um relacionamento estreito com as multinacionais japonesas e sul-coreanas.
No front interno das empresas, a crise provocada pela pandemia também implicará em mudanças na operação. Inicialmente, no curto prazo, enquanto elas não consolidarem uma cadeia de suprimentos mais sólida e confiável, a Bain, de Gold, prevê um aumento dos volumes de estoques, uma heresia até há pouco entre os cultores da produção enxuta, baseada em estoques mínimos e custos financeiros baixos. “No longo prazo, os níveis de estoques voltarão ao normal”, diz Gold, que prevê a emergência do novo normal na economia globalizada, entre 12 meses e 18 meses.
No chão de fábrica, a principal tendência é o aumento da automação da linha da montagem. “As empresas já estão vendo que há uma boa margem de improdutividade em sua mão de obra”, diz Gold. “É possível reduzir em até 30% o número de funcionários, na retomada.” Nas áreas administrativas, a grande aposta é a digitalização das companhias, com a generalização do trabalho remoto e da gestão a distância, sancionando a experiência de um sem-número de companhias que adotaram o home office durante o isolamento social.
No Brasil, um passo pioneiro nessa direção, foi dado pela XP Investimentos, que anunciou a construção de uma nova sede nas cercanias da capital paulista, como divulgou o NeoFeed. Batizado de XP Villa, o projeto será construído nos moldes do QG da Apple, em Cupertino, na Califórnia. Como anunciou Guilherme Benchimol, fundador e presidente da XP, o home office será oficializado na companhia – não será exigida a presença nos escritórios dos funcionários, que poderão trabalhar de qualquer lugar. Na mesma linha, a Stefanini, uma das principais empresas brasileiras de tecnologia da informação, pretende colocar 50% de seu pessoal em regime de trabalho remoto, no prazo de 18 meses.
A grande interrogação é até que ponto os principais atores – governos, políticos, empresas, sindicatos – estão dispostos a curar as feridas e aprimorar o sistema
Numa era de incertezas aberta pela pandemia, a única certeza é de que muita coisa deverá mudar, daqui para a frente, no mundo da produção e do trabalho, em nível global. A grande interrogação é até que ponto os principais atores – governos, políticos, empresas, sindicatos – estão dispostos a curar as feridas e aprimorar o sistema. Tarefa difícil quando se considera que mesmo os polos mais desenvolvidos, como a União Europeia, falharam miseravelmente no enfrentamento do coronavírus. Em vez da solidariedade e colaboração entre seus membros, os 27 países membros se entregaram ao mais rasteiro chauvinismo e individualismo.
Para complicar esse quadro, a pandemia expôs o que a The Economist identificou como a anarquia da governança global. Sob Trump, um notório militante antiglobalização e que corre o risco de não se reeleger nas eleições de novembro próximo, os Estados Unidos abdicaram de exercer seu papel de liderança. Ao mesmo tempo, a China, costumeiramente criticada por seu secretismo e autoritarismo, se mostrou desinteressada em assumir o bastão.
Nesse cenário nebuloso, Gold, da Bain, estima que o novo normal da globalização e a retomada da economia global ocorram entre 12 meses e 18 meses. “Quanto mais cedo acontecer a retomada, melhor para a China, que será menos cobrada pelos efeitos da pandemia”, diz Gold.
Quanto ao Brasil e suas empresas, as perspectivas não são nada animadoras. Devagar, quase parando no início do ano, antes mesmo da notificação do primeiro caso de contágio do Covid-19, a economia brasileira deverá sair depauperada em razão da pandemia. A previsão da OCDE é de uma recessão de 7,4% até dezembro, mas que pode chegar a 9,1%, caso ocorra uma segunda onda de Covid-19.
Na mesma linha, um estudo do pesquisador Marcel Balassiano, da Fundação Getúlio Vargas, com informações do FMI, prevê que a retomada da economia brasileira no pós-Covid, deve ser mais lenta do que a de 90% de um grupo de 192 países - na América do Sul estará à frente apenas da Venezuela.
Em outras palavras: caso o governo não acerte o passo e corrija seu comportamento errático, dificilmente contará com o apoio dos investidores internacionais para o day-after da pandemia. “As companhias que estarão procurando novas fontes de suprimentos levarão em conta como os países responderam ao Covid-19”, enfatizou a The Economist. No caso, a publicação referia-se às dificuldades que o México, tradicional fabricante de peças para a indústria automobilística das Américas, terá para se manter um fornecedor confiável, dado o comportamento leviano e irresponsável de seu presidente, López Obrador.
Inicialmente, Obrador desdenhava da ameaça da pandemia, desaconselhando o isolamento social do seu povo para enfrentar o “pequeño resfriado” que chegava ao México. “Somos uma etnia forte, que consegue vencer vários tipos de peste”, chegou a afirmar Obrador, ao mesmo tempo em que manipulava santinhos e amuletos, que o protegeriam do corona.
Por extensão, deve-se esperar que a advertência da revista britânica se aplique também ao maior país ao sul do Rio Grande, que se fizesse a lição de casa e adotasse uma política consistente de estímulo à competitividade de suas empresas, poderia perfeitamente se candidatar a uma posição num futuro redesenho das cadeias globais de produção. E daí?