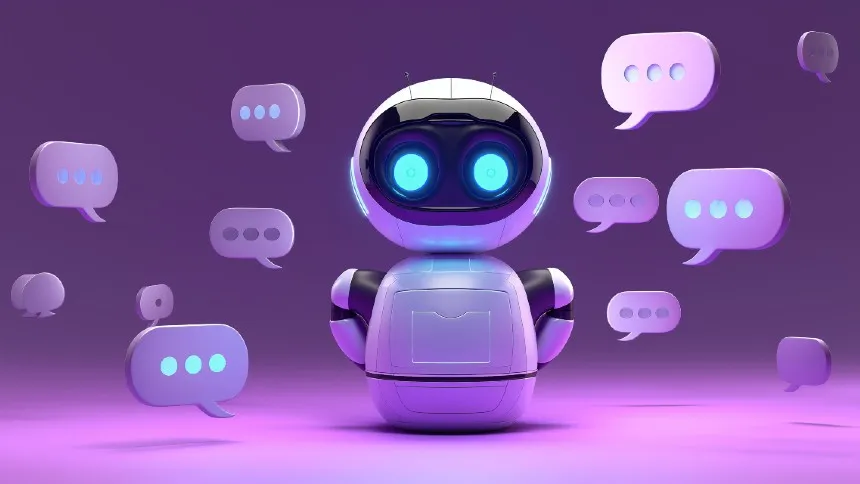O filósofo inglês Bertrand Russell, já no começo do século passado, alertava para “o problema da China”, título de uma de suas obras.
Com uma visão bastante favorável ao país face à distância e à sua orientação ideológica de viés socialista, Russell teve seus erros e acertos, os quais pude constatar com a vantagem de quem o leu cem anos depois – o livro foi publicado na década de 1920.
Não diminuo, entretanto, sua sensibilidade e capacidade em ter percebido que a China, então caótica e anárquica, como ele mesmo definiu, se tornaria uma questão central para a saúde do planeta Terra.
Já em meados da década de 1970 o país emergiu de uma economia obscurecida pelo sistema político vigente desde o advento da Revolução Cultural para se lançar numa prática de capitalismo estatal que não encontra freio na sua volúpia de crescimento.
Nesse movimento tornou-se o centro global de mão-de-obra barata e, portanto, um transformador industrial, em vários casos monopolista, com um mercado interno ainda incipiente. A depender do critério com que se avalia, tornou-se também a maior ameaça militar do mundo.
A industrialização avassaladora trazida por aquele processo usou a maior reserva de mais valia do mundo: seus mais de 700 milhões de pobres foram capazes de engendrar 100 milhões de privilegiados que hoje representam, talvez, os consumidores de luxo mais desenfreados do planeta.
A que custo?, perguntam-se vozes cada vez mais agudas, especialmente no Ocidente e não necessariamente alinhadas a um capitalismo partidário da iniciativa privada, até porque o olhar crítico para o gigante da Ásia perpassa vários aspectos caros às sociedades civilizadas.
O jornal inglês The Guardian, por exemplo, insuspeito de pendores liberais absolutos, trouxe, em matéria de fôlego no último dia 4 de agosto, a denúncia de uma professora levada à esterilização forçada aos 50 anos, em campanha do governo para suprimir as taxas de natalidade de mulheres de minorias muçulmanas.
O The Wall Street Journal apontou que habitantes do interior da Mongólia são perseguidos por Pequim porque protestam contra a imposição do mandarim
Já o The Wall Street Journal apontou que habitantes do interior da Mongólia são perseguidos por Pequim porque protestam contra a imposição do mandarim. Finalmente – tudo isso na mesma semana –, a revista The Economist mostra o flagelo de minorias étnicas em campos de concentração, nos quais são expostas a trabalho forçado, na região autônoma de Xinjiang.
O conglomerado Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), que a revista chama de “orwelliano”, mantém milícias que subjugam trabalhadores, cuja produção “penetra nas cadeias de suprimentos globais”. Sobre os cuidados ambientais dos chineses, creio ser desnecessário comentar.
Por pragmatismo – e o caso brasileiro é exemplar, já que a China precisa de nossas commodities para alimentar as almas que operam suas máquinas de processamento – países, empresas e organizações mundo afora adotam dois pesos e duas medidas quando ignoram as flagrantes distorções do modo capitalista estatal chinês, mas protestam veementes contra democracias que têm remédios mais eficientes para a suas falhas nessas esferas e que precisam, sim, ser criticadas.
Nós, naturalmente, devemos ter visão de longo prazo e nos proteger de um sistema que usa um duplo padrão em seu próprio e único benefício, em que suas obrigações são relativizadas e sua propaganda cobra a todos os outros perfeição absoluta. Só assim preservaremos nossos empregos, investimentos, nossa ética e nossa humanidade.
*Frank Geyer Abubakir é controlador e presidente do Conselho de Administração da Unipar. Descendente de seis gerações de empresários, ajudou a transformar a Unipar na maior produtora de cloro soda da América do Sul e em uma das maiores petroquímicas do continente.