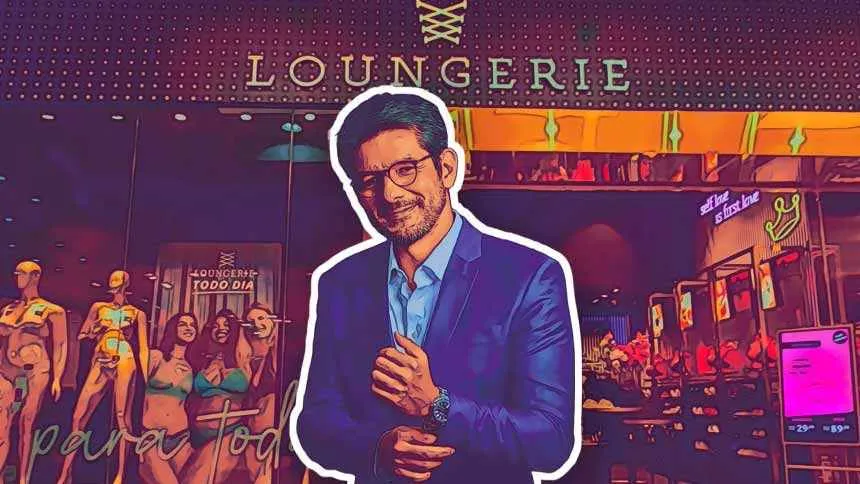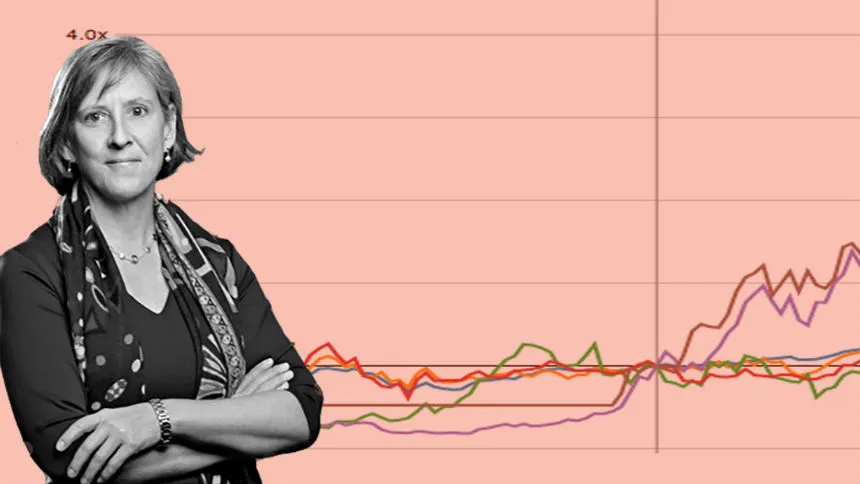É um hábito. Quem visita a Estação Pinacoteca, em São Paulo, costuma preferir a entrada discreta dos fundos, que dá acesso ao metrô e ao estacionamento, evitando o largo General Osório, onde cenas de vulnerabilidade social contrastam com a imponência do prédio desenhado por Ramos de Azevedo. Acostuma-se a situações que talvez não se devesse aceitar com tanta facilidade.
A exposição Domingo no Parque, de Renata Lucas, em cartaz até 6 de abril no museu, desafia a apatia. Com curadoria de Pollyana Quintella, a mostra revisita quase duas décadas de produção da artista, apresentando versões reinterpretadas de obras já existentes e novos trabalhos.
A artista é um nome incontornável da história da arte contemporânea brasileira, tendo participado de mostras internacionais importantes como a dOCUMENTA (13), em Kassel (2012); a 53ª Bienal de Veneza (2009); e a 27a. Bienal de São Paulo (2006). Com sutileza e precisão, Renata convida o público a reexaminar seus passos e a questionar as convenções sociais e urbanas que moldam — e silenciam — o cotidiano das cidades.
“Não prestamos atenção ao quanto estamos condicionados. Mexer nessas estruturas e dialogar com as pessoas pode inspirar algo”, diz Renata ao NeoFeed. “Nunca sabemos exatamente quem é o nosso público. A interlocução começa antes mesmo do trabalho estar pronto, como uma ressonância. Você mexe, e de algum modo toca um acorde na estrutura da cidade.”
A artista costuma dizer que seu trabalho começa já nos processos de negociação para obter autorizações tanto para intervir na paisagem urbana quanto dentro do espaço museal. Na praça em frente à instituição, Renata realizou a intervenção Roda Gigante: recortou um círculo na calçada e rotacionou o pavimento de maneira que um fragmento da calçada invade o jardim e vice-versa. Um gesto simples, mas que desconstrói a separação formal entre espaço público e natureza.
Outro trabalho que também explora a relação com a natureza é o letreiro na fachada do museu: “Amanhã não tem feira”. Por que não tem feira? Perdeu-se a colheita? Não houve alimento? Foi a seca? A chuva? A frase provoca a imaginação, suscitando perguntas sobre ciclos naturais, abastecimento e rupturas no cotidiano.
O letreiro, assim como o título da exposição, é apropriado da música Domingo no Parque, de Gilberto Gil, escrita em 1967 e apresentada no III Festival da Canção no mesmo ano. Naquela época, o prédio que hoje abriga o museu era a sede do Dops, órgão de repressão aos movimentos sociais e populares durante a ditadura do Estado Novo e o regime militar.
A música de Gilberto Gil é levada para dentro do espaço expositivo, ampliando suas camadas de significado. Logo, o visitante atento percebe que o chão que pisa guarda mistérios. Um deles é o vinil da obra Long Play (Hidden Track): ao colocar o disco para girar, a icônica canção Domingo no Parque ganha vida. E, ao levantar o olhar, encontra-se a obra Olha a Faca, uma esculta de madeiras que esconde uma faca — referência direta ao verso da música e à arma do crime cometido por José.
O hall oferece dois caminhos. À esquerda, está a instalação Cabeça e Cauda de Cavalo, exibida pela primeira vez no KW Institute for Contemporary Art, em Berlim, em 2010. A obra estabelece uma conexão metafórica entre interior e exterior por meio de uma plataforma giratória.
Ao empurrar a parede do museu, o público faz o chão girar, revelando uma área gramada similar ao solo do Largo General Osório, onde está localizada a obra Roda Gigante. O movimento cria uma sensação de embriaguez e vertigem que também está presente na música de Gil.
Na segunda sala, à direita, o visitante encontra [ ], composta de paredes móveis e discos embutidos no chão. Ao girar as paredes falsas, o movimento aciona trechos da música de Gil, reproduzidos em velocidades variáveis. Dependendo do ritmo, a legibilidade dos versos é distorcida, fragmentando o significado da canção.
“A exposição está toda costurada pela música, mas tudo fica dilacerado, estressado, ela acontece com fragmentos”, comenta Renata. Ainda nessa sala está O Perde, uma mesa de sinuca modificada. Suas caçapas foram substituídas por encanamentos que conduzem as bolas para canaletas embutidas no solo, onde desaparecem de vista.
No térreo do museu, as bolas reaparecem de tempos em tempos, expelidas por buracos nas paredes, acompanhadas de um som fantasmagórico que ecoa enquanto elas circulam pelos canais internos. Esse som evoca o passado sombrio do prédio e a época em que presos políticos desapareceram sem deixar vestígios.
Na última sala da exposição, encontra-se Falha, onde as chapas de compensado que recobrem todo o piso do museu desaguam. Unidas por dobradiças, as tábuas podem ser movimentadas por puxadores, dobrando e desdobrando o chão, reconfigurando temporariamente o espaço e alterando sua percepção.
“A exposição inteira te conduz a esse estado de suspensão, quase como se estivesse numa brisa. Acho que é isso: essa sensação de deslocamento, de alteração”, explica Renata.
As amplas janelas da sala oferecem uma visão panorâmica do entorno do museu. Em uma delas, encontra-se Tempo Curto, um copo que metaforiza um gole da paisagem. “Eu queria um gesto menor, que mostrasse como existem várias formas de lidar com o espaço. O impacto pode ser imenso, mesmo em algo muito reduzido”, comenta.
Artista desde sempre
Reparar na paisagem e no que acontece ao seu redor é algo que Renata faz desde a infância. Nascida em 1971, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ela cresceu em um bairro em constante construção, onde a paisagem parecia estar sempre se transformando.
Em um dos terrenos do bairro, havia um projeto para uma praça. Renata acompanhava a obra e imaginava como seria o espaço finalizado. “Para mim, era um depósito de imaginação absurda. Como seria a praça? Eu achava que ia ter uma lagoa, animais pré-históricos, sabe? Com pescoços grandes!”, lembra. A praça, para frustração da pequena artista, não recebeu dinossauros, apenas árvores e bancos.
Imaginar situações e possibilidades diferentes da realidade ao seu redor já era uma forma de trabalho para Renata, muito antes de frequentar a faculdade de artes visuais. Quando chegou à idade escolar, ela surpreendeu os pais com um pedido inusitado: queria adiar a entrada na escola por um ano para terminar seus projetos.
“Naquela época, eu sabia exatamente o que queria. Queria fazer o meu trabalho. Passava noites inteiras desenhando e fazendo maquetes”, relembra. “Meus pais confiavam em mim. Sentiam que, de certa forma, eu estava sendo guiada por algo natural e que não poderiam me impedir de fazer o que precisava.”
Esse senso de tempo dilatado que Renata cultivava na infância continua presente em seus projetos atuais. Ela deseja que suas obras ultrapassem a efemeridade de um vernissage. Para a exposição aberta na Pinacoteca, em 9 de novembro de 2024, Renata ainda planeja ativar alguns trabalhos e instalar mais um em março.
“Os meus trabalhos são projetos sempre em andamento, nunca terminados”, diz. “Ele continua vivo, se desdobrando” também em quem os vivencia, levando consigo uma reverberação cíclica, como a música de Gilberto Gil.