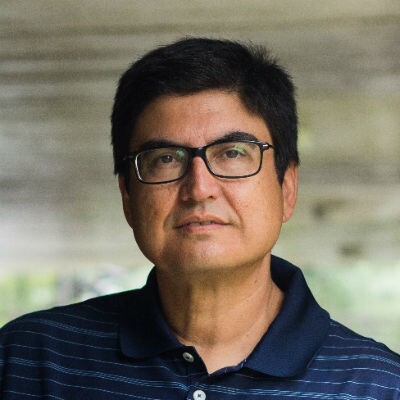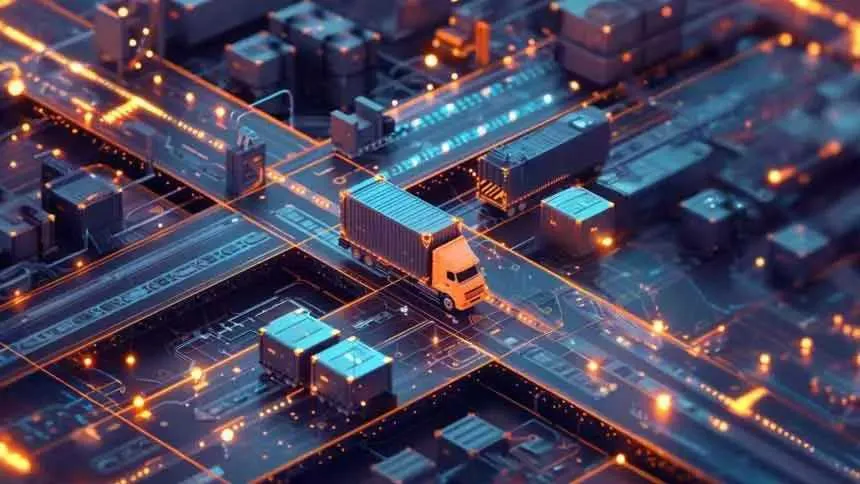Desde o desastre da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, há pouco mais e quatro meses, as ações da Vale alternaram altas e baixas, mais atreladas aos fatos macroeconômicos que movimentam o mercado de capitais do que propriamente às respostas da companhia a sua desastrosa gestão socioambiental.
De 1º de fevereiro a 31 de maio, as ações da Vale tiveram uma valorização de cerca de 5,6%, mesmo diante do calvário da busca por corpos das vítimas em Brumadinho, da troca de comando e, mais recentemente, da ameaça de rompimento de outra barragem, agora em Barão de Cocais, há 100 quilômetros de Belo Horizonte.
É evidente que o mercado de capitais normalizou a desastrosa gestão socioambiental da Vale. Precificou as vítimas, em sua maioria funcionários da própria companhia, estabeleceu o custo dos danos ambientais e, com isso, agora possui um modelo de cálculo para rapidamente avaliar os futuros desastres.
Segue o jogo porque o minério de ferro é uma commodity que vende como pãozinho quente. E o importante é assegurar que a Vale continue a atender a essa demanda, gerando resultados para todo o sistema financeiro. Dentro dessa lógica, desastres como Mariana, Brumadinho e, tomara que não aconteça, Barão de Cocais são danos colaterais, que o gigantismo da empresa tem condições de absorver.
Cai por terra o mito de que o mercado de capitais é o lugar para pessoas comprometidas com o longo prazo. Ele se move pelo lucro imediato, aqui e agora. Do contrário, os analistas e grandes investidores não seguiriam apoiando uma empresa que ainda não deu qualquer demonstração confiável de que desastres como esses jamais ocorrerão novamente.
A gestão de crise da Vale é absolutamente guiada pela cartilha jurídico-financeira. Suas variáveis de decisão são sempre convertidas em moeda, pois a Vale se acostumou a reparar seus danos colaterais pagando indenizações, acordos, sem soluções sustentáveis de longo prazo. Com essa cultura, a governança da Vale é basicamente um sistema de avaliação de trade-offs financeiros. O problema é que o impacto na vida não deveria fazer parte dessa máquina de cálculos e decisões. Mas, sim, ser uma premissa ética de base e fundamental para guiar todas as demais decisões da companhia.
O mesmo deveria valer para os gestores de investimentos. Como fica explícito no caso Vale, isso não acontece. O efeito mais paradoxal e pouco percebido é que, diante desse episódio, todos perdem. Perde o mercado de capitais, que não aproveita a oportunidade de educar a Vale e ainda se mantém dependente da alta participação das ações da companhia no movimento diário da B3. Perde a Vale, que não transforma sua cultura e suas práticas. Perde a sociedade, que permanece ameaçada de sofrer e pagar pelo impacto de novos desastres.
E como o mercado de capitais poderia educar a Vale? Por meio do único mecanismo que seus acionistas e executivos entendem: o valor das ações. Reduzindo posições gradualmente, estabelecendo uma moratória (individual ou coletiva) para a negociação das ações da companhia até que a Vale tenha demonstrado mudanças convincentes. Enfim, gestores inteligentes e movidos pelas motivações adequadas seguramente encontrariam formas de influenciar a Vale em vez de deixá-la nesta posição de adolescente mimado – faz besteira, leva uma bronquinha, mas amanhã está tudo bem.
Gestores inteligentes e movidos pelas motivações adequadas seguramente encontrariam formas de influenciar a Vale em vez de deixá-la nesta posição de adolescente mimado – faz besteira, leva uma bronquinha, mas amanhã está tudo bem
O que a Vale necessita para ser confiável é de uma transformação radical. A começar pela cultura da tomada de decisão. Afinal, são os acionistas que ditam o que é importante dentro de uma empresa: se são as vidas e os resultados de longo prazo ou as metas de produtividade e os lucros de curto prazo. Cultura com valores claros e bem incorporados funcionam muito mais para a gestão de riscos do que novos controles incapazes de cobrir todas as variáveis possíveis.
Essa transformação cultural também precisa alcançar a forma como a Vale se relaciona com a sociedade. A companhia deveria dedicar-se a criar espaços de confiança para construir soluções duradouras com seus stakeholders em vez de resolver temporariamente temas controversos por meio da lógica jurídico-financeira. Um movimento que pede abertura ao diálogo e à inovação.
A mesma inovação necessária para desenvolver técnicas de mineração e negócios que reduzam (e, no futuro, eliminem) a geração de rejeitos, dispensando as perigosas barragens, eliminando significativamente riscos ambientais e abrindo caminho para novas fontes de receita. Para tanto, teria que fazer o mais decisivo trade-off: trocar parte do lucro de curto prazo por investimentos que permitam a perspectiva de lucros duradouros e sustentáveis no longo prazo.
* Álvaro Almeida é jornalista especializado em sustentabilidade. Diretor no Brasil da consultoria internacional GlobeScan, sócio-fundador da Report Sustentabilidade, agência que atua há 17 anos na inserção do tema aos negócios. É também organizador e curador da Sustainable Brands São Paulo, integra o Conselho Consultivo Global desta rede de conferências e participa da Comissão de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).